Cinco séculos de portugueses ciganos
Portugueses ciganos. O que mudou depois do 25 de Abril de 1974
Cinco décadas de democracia não chegaram para alterar as condições de vida, mas há um processo de transformação em curso. Este é o terceiro capítulo da série especial Portugueses ciganos – uma história com cinco séculos
A vida dos portugueses ciganos está em franca mudança. Recuemos lá
atrás, ao pré-25 de Abril de 1974, e façamos uma viagem no tempo.
Através de histórias de vida de pessoas de várias idades, residentes
em distintas partes do país, podemos ver essa transformação.
Ideias-chave: esperança no processo democrático;
sedentarização/concentração em bairros sociais; penetração das igrejas
evangélicas; declínio dos modos tradicionais de sustento; recurso a
prestações sociais; escolaridade obrigatória; emergência do activismo;
tensões entre tradição e modernidade.
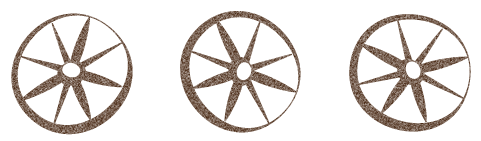
O fim da guerra

Francisco Montes à porta da casa de uma filha em São Brás de Alportel, no Algarve. Teresa Miranda
Quando Francisco Montes (n. 1944) era jovem, no Sul do país falava-se
em ciganos “com casa” e em ciganos “de pé”, “encostados às paredes”,
que “andavam pelo mundo”. Podiam ser vendedores ambulantes,
negociantes de equídeos, tosquiadores de bestas, trabalhadores
agrícolas sazonais…
Montes tinha tios e primos “de pé”, que circulavam pelo Algarve, mas
os pais levantaram uma barraca de zinco. Ele ainda andou pelas feiras
a comprar e a vender cavalos. Cedo arranjou outros trabalhos.
Lembra-se de estar a distribuir gás ali mesmo, em São Brás de
Alportel, no distrito de Faro, onde ainda agora mora, e de ser parado
por um militar da GNR. “Então? Você já tem idade para ir para a
tropa.” Fez-se de desentendido. “Olhe, não sei se tenho ou não tenho.”
Sim, já tinha idade para se apresentar, mas não queria cumprir
obrigações militares. “Ninguém queria ir à Guerra [Colonial].” Quem
tinha dinheiro fugia para França, Alemanha, Suíça, Luxemburgo, sabia
lá ele.

Francisco Montes mostra uma fotografia onde aparece fardado. Teresa Miranda
Estava em marcha o êxodo rural. Milhares de pessoas deslocavam-se de
aldeias e vilas para os centros urbanos para trabalhar nas fábricas. E
esse movimento também incorporava pessoas ciganas. Quantas faziam
campanhas agrícolas e iam às fábricas comprar lotes para vender de
porta a porta ou em praças, feiras, mercados, levando mercadoria aonde
quase mais ninguém levava?
Montes fugiu para Setúbal. Ainda lá andou uns três anos, mas o raio do
conflito — que estourara em 1961, em Angola, e alastrara a Moçambique,
Guiné, Cabo Verde — nunca mais terminava. “Não vou andar sempre
fugido...”, pensou.
O serviço militar obrigatório durava quatro anos. Entregou-se em Faro.
Fez praça em Beja. Passou por Évora. Avançou para Lisboa, onde
embarcou num navio chamado Niassa. Três anos de luta armada. “A zona
que eu estive, muito perigosa, muito perigosa.” Mueda, província de
Cabo Delgado, Norte de Moçambique.
Não sabia ler nem escrever. Na sua infância, a escolaridade era
obrigatória até à 3.ª classe para as mulheres e à 4.ª para os homens,
mas quem se importava? Para comunicar com a família, pedia ajuda aos
colegas. “Tinha um rapaz que era daqui. Ele é que me fazia as coisas.”
Recebeu uma carta de uma rapariga com 20 escudos. No regresso, com os
copos, falou com um tio dela. “Tive de ficar com ela!” Pela tradição
cigana, só a mulher pode romper o compromisso. Ainda viveu com outra.
“Queria ver se ela desmanchava aquilo, e nada...”
A tropa tinha um efeito nivelador. Talvez fosse o único momento da vida de um homem cigano em que lhe era dada a sensação de ser um igual. Os soldados vestiam todos o mesmo modelo, comiam todos a mesma comida, corriam todos os mesmos perigos.
Montes sentia-se uma espécie de guarda-costas do capitão, que era de Tavira. “Só me queria ao pé dele.” Amiúde, juntava-se a outro soldado algarvio, que tinha uma viola. Um entoava canções portuguesas ciganas e o outro canções espanholas de vários géneros. Às vezes, já estavam a dormir e o capitão ia acordá-los: “Venham lá!” E lá iam eles espantar o medo.
No mato, a sensação de perigo perturbava-o até durante o sono. Já em
casa, dava “saltos na cama”. “Lá andei sempre com aquela coisa. Medo.
A olhar para um lado e para o outro. E pronto. A gente veio mesmo
‘coiso’”, concede. “Muitos vieram malucos.”
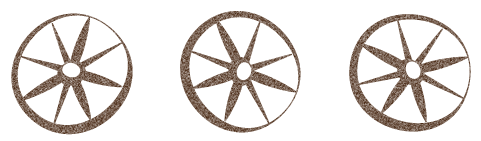
A esperança na democracia

Fotografias e cartão de antigo combatente de Francisco Montes. Teresa Miranda
A Revolução de 25 de Abril de 1974 pôs fim àquela guerra distante e
fora do tempo. No dia 2 de Maio, a Junta de Salvação Nacional emitiu
uma amnistia para quem não cumprira a Lei do Serviço Militar.
Houve uma surpreendente afluência de homens ciganos. No dia 8 de
Agosto, a
RTP publicou uma reportagem
sobre isso no Distrito de Recrutamento Militar de Lisboa, aquele que
tinha maior afluxo.
“As várias gerações de ciganos, pelo menos as antigas, não iam ao
registo civil”, explicava o major Sousa Dias. “Muitos deles não eram
chamados para o serviço militar. Só um ou outro é que se conseguia que
fosse incorporado.” Quem estava nessa situação não podia tirar
passaporte, carta de condução. “Viram vantagem de regularizar a
situação para não serem perseguidos e presos.”
Quando se ouve a voz de homens ciganos ali presentes, não
identificados na peça, o que emerge é esperança. “Como isto mudou do
25 de Abril para cá, pode também dar mais umas vantagens aos rapazes”,
dizia um. “O cigano português era um ‘bicho’, era português, mas
considerado um ‘bicho’”, declarava outro. “A polícia desandava com
eles por serem ciganos. Eram escorraçados. Ficámos maçados, toda a
raça cigana portuguesa”, salientava. “O cigano vivia atormentado. E
agora, como vê que é um país livre, vamos utilizar a nossa
documentação para sermos apurados.”
A Constituição de 1976 não podia ser mais clara: “Todos os cidadãos
têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei.” Mas o
Conselho da Revolução tardou. Só em 1980 declarou inconstitucional o
regulamento para o serviço rural da GNR que ordenava “severa
vigilância” sobre os ciganos. Só em 1985 tal normativo foi alterado,
mantendo-se em vigor, todavia, uma “especial vigilância” sobre
“nómadas”, a par de mendigos e prostitutas.

António Costa e Deolinda Robalo na feira de Penamacor. Paulo Pimenta
António Costa (n. 1944) fugira à guerra. Estivera em Angola três anos
com os pais a vender carpetes e voltara para ir à inspecção militar
convencido de que ficaria livre. “O meu pai pagou 81 contos.
Enganaram-se. Outro ficou livre e eu fiquei apurado. Fugi para
França.”
Foi “a salto”, isto é, sem passaporte, como milhares de outros
portugueses. Conheceu logo Deolinda Robalo (n. 1950), que não é
cigana. “Estava a tirar o Curso de Enfermagem. Namorei este estupor,
pronto! Casei-me com 17 anos. Aos 18 tive o primeiro filho, aos 19 o
segundo...”
Costa trabalhou numa fábrica quatro anos, mas não gostava daquilo.
Gosta de ser dono do seu tempo, de estar ao ar livre, de comprar,
vender, negociar. Pode dizer-se que nasceu naquilo. “Nasci em
Proença-a-Nova. Ia haver feira. Nasci na véspera, à noite. E no outro
dia vim para Caria, Belmonte, a cavalo. Antigamente, era assim.”

Deolinda Robalo mostra uma fotografia antiga do marido. Paulo Pimenta
Na década de 50, o pai dele começou a fazer negócios com grandes lotes
de tecido em Angola, na Madeira, nos Açores. Muitos iam da metrópole
para as chamadas “províncias ultramarinas” vender porta a porta, nas
feiras e mercados. E Costa foi criado nesse balanço.
Ainda agora, levanta-se de madrugada com a sua Deolinda para montar
uma banca de sapatos em Penamacor, no Fundão e noutras feiras da
região Centro. “Quando começa o tempo mau, já não vamos”, diz ela.
Estando bom, avançam com a ajuda do filho mais velho, Tony.

Deolinda a vender sapatos em Penamacor. Paulo Pimenta
Ansiando pelo regresso a esse modo tradicional de vida, por volta de
1970 Costa foi à Bélgica buscar um passaporte falso e viajou para
Portugal. Em Portugal arranjou nova entidade falsa e seguiu para o
Brasil. “Era Joaquim Afonso”, recorda Deolinda, que o seguiu volvido
um ano, com as duas crianças. Sabendo da amnistia, voltaram.
De muitas partes vinha gente. Uns praticamente não tinham querer ,
estavam nas colónias agora independentes. Outros, sim, estavam
animados com a mudança. Costa e Deolinda ansiavam por voltar à terra.
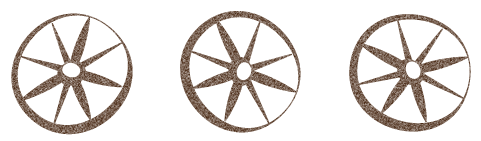
Abertura religiosa e ascensão da Igreja Filadélfia

Igreja Filadélfia em Caria, freguesia de Belmonte. Teresa Miranda
Nos anos de ditadura, o pluralismo cultural e religioso não tivera
lugar. As confissões não-católicas causavam estranheza. Com o 25 de
Abril de 1974, veio liberdade de consciência, de religião e de culto.
Em França, um homem chamado Clément le Cossec convertera-se à
Assembleia de Deus e dedicara-se a evangelizar ciganos. Em Portugal, o
caminho fora aberto por Baltazar Lopes, da Assembleia de Deus.
Convidara os franceses para o ajudar a converter ciganos, mas acabara
por pedir aos espanhóis que assumissem tal tarefa.
Emiliano Jiménez Escudero cruzara a fronteira e formara o primeiro
grupo na comunidade cigana de Tortosendo, Covilhã, em 1973. Provocara
forte impacto num homem até então dado à bebedeira. Tanto que esse se
tornara o primeiro discípulo português cigano — Joaquim Vicente,
conhecido por pastor Quim.
No início, os precursores predicavam de porta a porta, em habitações,
descampados. Em 1975, já tinham uma barraca na zona da Falagueira,
Amadora. Mais um ano, uma igreja na Brandoa. Em 1979, registaram a
Igreja Evangélica Filadélfia Cigana de Portugal.

Homens e mulheres sentam-se em lados diferentes da igreja. Marisa Marques, técnica da Associação de Desenvolvimento Beirra Serra, destoa sentando-se no lado dos homens. Paulo Pimenta
A família Costa conta esta história na primeira pessoa. Deolinda
lembra-se de Baltazar Lopes pregar em Belmonte e na Covilhã. Foi
baptizada “pelo irmão Dias” antes de viajar para o Brasil. Costa só no
regresso, já pelo pastor Quim, que ainda era seu primo.
“O Quim foi nosso pastor muito tempo. Vinha com uma motazinha por aí a
fora.” Costa ainda foi candidato, mas preferiu ser diácono, isto é,
assumir responsabilidades ligadas à manutenção e funcionamento da
igreja.
Tomou a iniciativa de construir em Caria uma pequena igreja. “Pedi
dinheiro ao banco. Arrisquei e ganhei dinheiro no bar da igreja para
pagar a letra.” Deolinda não gostou. “Houve tanta discussão em casa.”
Vinha muita gente ajudar. “Fazíamos aí o almoço.” Tantas vezes os
outros iam embora e ele continuava a trabalhar.

António participa num culto celebrado à terça-feira, ao final do dia. Paulo Pimenta
No êxodo dos meios rurais para os urbanos, amontoando-se famílias nas
periferias das cidades. E a Filadélfia “aproximou-se destes novos
espaços, instalando-se no seio (geográfico e social) dos bairros,
abrindo locais de culto e reunião em caves, garagens e anexos”,
escreveu o investigador Ruy Llera Blanes. Ao estudar o fenómeno, o
antropólogo viu como esta soube ajustar-se à cultura cigana: a
separação por géneros, o conselho de anciãos, o lugar central da
música, incorporando ritmos e melodias do flamenco e da rumba.
Vários investigadores têm dado conta da mudança que esta conversão tem
estado a provocar. A socióloga Maria José Casa-Nova, por exemplo,
refere como os pastores, embora jovens, começaram a assumir papéis até
então reservados aos homens mais velhos, “homens de respeito”. A
socióloga Maria Manuela Mendes fala numa maior abertura à sociedade
envolvente — “Muitas igrejas são frequentadas por ciganos e
não-ciganos”. Repara num aumento dos níveis de literacia — “Muitos
sentiram necessidade de perceber melhor os textos bíblicos”. E na
flexibilização de práticas tradicionais como a “separação entre
contrários”, que alimentava vingança entre famílias desavindas.
Tem um papel regulador do comportamento, esta igreja pentecostal,
conservadora. “Posso tomar uma cerveja? Posso. Não posso é
embebedar-me”, exemplifica o pastor Mário Cardoso Fernandes (n. 1973),
sobrinho do mítico pastor Quim, no fim de um culto em Caria. “O
verdadeiro crente não pode apanhar bebedeiras, não pode usar armas,
sabe perdoar.” O condicionamento estende-se à expressão musical. Um
crente da Filadélfia não pode cantar nem dançar música do
mundo/profana, isto é, secular. Só pode cantar música de Deus/sagrada.

Pastor Mário Cardoso Fernandes, de costas, durante uma celebração. Paulo Pimenta
Não é a única, esta que já soma 400 obreiros e 120 igrejas. Há outros
cultos evangélicas a florescer. Estima-se que abarquem 60% da
população cigana. Perguntar-se-á qual será o efeito na cultura cigana.
E sobressairá uma clivagem com o associativismo cigano.
“A diabolização da vida boémia foi muito importante nas décadas de 80
e 90, quando muitas famílias ficaram desestruturadas pelo consumo de
heroína”, comenta Bruno Gonçalves, dirigente da Associação Letras
Nómadas. “O culto evangélico ajudou muitos jovens que andavam
perdidos. Mas há um risco para a cultura cigana. Nem nos casamentos
entra música secular cigana. Só música evangélica. E as danças ficam
de fora.”
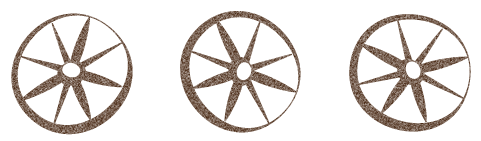
Do despertar do associativismo ao activismo
José Maria Fernandes (n. 1956) apresenta-se como líder da mais antiga
associação cigana de Portugal: Os Viquingues do Bairro de São João de
Deus, no Porto. O início de actividade remonta a 1974 e o registo a
1987.
O bairro começara por ser um conjunto de casas térreas (1944). Ganhara
oito blocos de habitação, pensados de raiz para alojar pessoas que
viviam em “ilhas” (fileiras de casas minúsculas e sobrelotadas da
cidade) e pessoas (ciganas) que viviam num acampamento que era preciso
desocupar para abrir a Avenida de Fernão de Magalhães (1969).
José Maria era um dos rapazes do acampamento montado num terreno de um
particular. Dormia no chão, numa tenda de lona. “Sair de um barraco em
que entra água e frio para ir para uma casa da câmara? Os nossos
anciães disseram logo: ‘Sim, senhor’. Nem pensaram duas vezes.”
Ninguém sabia no que aquilo ia dar. Era uma das primeiras experiências
de realojamento em habitação de portugueses ciganos.

Demolições no Bairro São João de Deus, em 2004. Nelson Garrido
A esta distância, José Maria considera tudo aquilo “ridículo”.
“Câmaras de norte a sul do país construírem blocos só para ciganos,
bairros só para ciganos, escola só para ciganos? É ridículo. É assim
que vamos ser integrados na sociedade? Nunca na vida!”
Nunca gostou de ficar à parte. Sempre teve sonhos. “Fui o primeiro
cigano [do acampamento] a fazer a 4.ª classe.” Foi trabalhar para as
obras. “Era um trabalho pesado.” Experimentou ser pasteleiro,
sapateiro, empregado de balcão. “Eu nunca quis fazer vida de cigano.
Queria ter o meu ordenado no fim do mês em vez de andar aí no
negócio.”
Em 1974, alguns jovens do bairro quiseram organizar um torneio de
futebol. “Os ciganos também queriam participar. Alguns vieram ter
comigo para eu treinar uma equipa e entrarmos nesse torneio.” Ainda
resistiu, mas aceitou. “Ficamos muito mal qualificados.”
Ainda estava a digerir o resultado quando a Revolução saiu à rua. Uma
alegria. “Os ciganos foram os que mais sentiram a liberdade. Os
ciganos eram perseguidos pela polícia. A nossa sorte foi haver o 25 de
Abril.”
Nos anos que se seguiram, o país viveu uma espécie de explosão do
movimento associativo. José Maria continuava a treinar os jovens, mas
“não sabia o que era uma associação”. Duas técnicas é que o
desafiaram. “Explicaram-me o que era e que benefícios poderia trazer.”

Apresentação do filme “Uma Fantasia Cigana”, em 2005, no Bairro São João de Deus. Nelson Garrido

Nesse dia, os habitantes do bairro receberam os actores e o realizador Luís Costa. Nelson Garrido
O leque foi-se alargando. “Os jogos começaram a correr melhor. Cada
vez que ganhávamos um jogo, começávamos a cantar e a dançar.
Ocorreu-me organizar um grupo de danças e cantares ciganos.”
Nos anos 80, a epidemia de heroína já se via nas ruas do São João de
Deus (e de muitos outros bairros das periferias das cidades).
Chamavam-lhe “o bairro dos ciganos”, “o bairro dos malditos”, “o
bairro dos condenados”, “o Tarrafal”, numa alusão ao campo de morte
lenta que existira em Cabo Verde.
Tinha começado o processo destrutivo que havia de levar à demolição do
bairro já este século. Mas antes disso o Programa Nacional de Luta
contra a Pobreza (1990) ainda tentou salvá-lo. Tratou de erradicar as
barracas, que entretanto tinham sido erguidas por gente que já não
cabia nos apartamentos ou que viera das ex-colónias. Construiu nova
habitação e criou equipamentos e serviços de apoio à população.

Local de consumo de droga perto do Bairro São João de Deus. Paulo Pimenta
Os Viquingues eram uma voz local, recreativa. “Miúdos que andavam na
rua vinham para a sede jogar às cartas ou jogar bilhar. Em vez de
andarem a fazer maldades, estavam connosco”, recorda José Maria. Para
que os ciganos pudessem ter uma voz e um rosto junto de organismos
públicos, aliou-se ao seu amigo Vítor Marques e criou a União Romani
Portuguesa (1998). “O meu maior sonho era integrar as comunidades
ciganas na sociedade.”
Tudo se conjugava. Fora criado o Alto Comissariado para a Imigração e
as Minorias Étnicas (ACIME), actual Alto Comissariado para as
Migrações (ACM). A EAPN/Portugal e a Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa tinham começado a formar mediadores ciganos. Associações como a
Olho Vivo e o SOS Racismo procuravam alertar a sociedade para a
xenofobia, o racismo, a discriminação. O ACIME juntou-se à União
Romani Portuguesa para incentivar o nascimento de associações.
A primeira formada por mulheres nasceu em 2000, no Seixal. Na génese
da Associação Para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas está um
curso de mediação sociocultural promovido pelo Centro Europeu de
Estudos sobre Migrações. Um dos formadores incitou Olga Mariano,
Anabela Carvalho, Alzinda Carmelo, Sónia Matos e Noel Gouveia.
Olga Mariano foi a primeira presidente da Associação Para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portuguesas. Adriano Miranda
Tiveram de vencer muitos obstáculos. Conta Sónia (n. 1974) que ajudou
estarem ligadas por laços familiares. E Olga (n. 1950) ser uma mulher
mais velha, viúva, respeitadora das tradições e respeitada na
comunidade.
Os media deram-lhes grande atenção. Assumiram que aquelas
mulheres travariam uma luta emancipatória de cariz feminista. E isso
obrigou-as a justificar-se, a rejeitar rupturas, a afirmar
continuidades.
Embora tomada por homogénea, a população cigana é muito fragmentada.
“E patriarcal — o homem é que tem a palavra”, sublinha Sónia. “Nas
feiras, vários homens foram perguntar ao meu pai: ‘Quem é que a tua
filha pensa que é para estar a falar em nome de todos?’”
Nos primeiros dez anos, reuniam-se em cafés e acondicionavam os papéis
na bagageira de um carro. Iam a qualquer lado dar formação sobre
cultura cigana a professores e técnicos. “Ter oportunidade de ouvir o
outro na primeira pessoa faz cair muitos preconceitos.”
Neste momento, funcionam em instalações cedidas pela Câmara do Seixal
e estão a desenvolver, em parceria com o Instituto de Emprego e
Formação Profissional, acções de formação com técnicos escolhidos a
dedo, “num horário viável para mulheres ciganas, habituadas a outra
forma de estar”. Sónia quer ajudar todas as mulheres ciganas a ganhar
autonomia, mas sobretudo as viúvas. “Estão no fim da linha.”
De um associativismo incipiente, recreativo, desportivo, cultural,
germinou um activismo assente em microgrupos, baseados na existência
de laços familiares, mas a tentar transformar discursos e práticas
sobre as pessoas ciganas.
Procurando a origem desse movimento hoje audível, Sónia destaca o
rendimento mínimo garantido (1997), actual rendimento social de
inserção (RSI). “O que movimentou a comunidade cigana foi o RSI. O RSI
obrigou os técnicos a desenhar planos de inserção para as pessoas.” Os
adultos começaram a ser convocados para cursos de alfabetização,
formação de competências, formação profissional. “Começámos a estudar,
a ganhar conhecimento, a tomar consciência.”

Bairro da Jamaica em 2020, no Seixal. Rui Gaudêncio
Tinha recorrido a essa medida e, por isso mesmo, sido recrutada para o tal curso. Fora retirada da escola mal terminara o 4.º ano para cuidar dos três irmãos. “Aos 13, a minha mãe chegava e tinha a casa arrumada e o almoço feito. Aos 15, já sabia levar uma casa.” Estava pronta para se casar, como faziam as raparigas ciganas da sua idade. Mas queria mais. E o RSI deu-lhe a possibilidade de chegar ao pé do pai dela e dizer que “tinha um contrato assinado que obrigava a tirar um curso”. Nunca mais deixou de trabalhar. Está a terminar a licenciatura em Educação Social.
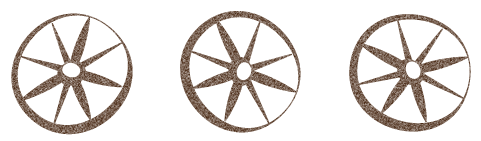
O impacto das políticas públicas

Francisco Azul viveu numa barraca, no Barreiro, até 1998. Paulo Pimenta
Francisco Azul (n. 1992) faz parte do primeiro grupo de licenciados
portugueses e ciganos com visibilidade pública. Estudou Serviço Social
no Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de
Lisboa.
Não se põe em bicos de pés a fazer discursos sobre os seus méritos.
Deixa claro que esse é o resultado de um caminho individual, mas
também colectivo, que começou lá atrás, quando tinha seis anos e se
mudou de uma barraca, no Barreiro velho, para uma casa, no Bairro
Social da Quinta da Mina.
Ainda se lembra, “como se fosse hoje”, da primeira vez que entrou
naquela casa. “Tinha paredes superbrancas, cintilantes, e um espaço
verde, enorme, mesmo em frente.” Não sabia explicar, mas sentia que,
vivendo naquele lugar luminoso, teria outras oportunidades.
Em 1997/98, quando Francisco entrou na escola mais próxima de casa, no
básico e secundário havia 5921 estudantes de etnia cigana. Quando se
aproximava do fim do seu percurso, em 2018/2019, pelas contas da
Direcção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, somavam 22.556
(25.140, com o pré-escolar). Já todos terminavam o 1.º ciclo, mas
iam-se perdendo de ano para ano até somarem muito poucos no
secundário.
Ciganos matriculados por nível de ensino, anos lectivos e sexo
Alunos das comunidades ciganas matriculados em escolas públicas do MEdu
Todo o Estado-Providência contava: a escola pública, o Serviço
Nacional de Saúde, o sistema de Segurança Social… Entrando na União
Europeia, Portugal começara a levar mais a sério o combate às
desigualdades.
Francisco sentia o impacto do Programa Especial de Realojamento
(1993), pensado para acabar com as barracas nas áreas metropolitanas
de Lisboa e Porto. E do RSI, que veio atenuar a severidade da pobreza
e pressionar a escolarização.
Já neste século, o país avançou para novas formas de intervenção
educativa. Veio o Escolhas (2001), que começou por ser um programa de
prevenção de delinquência juvenil e evoluiu para a inclusão social de
crianças e jovens de contextos vulneráveis. E o Territórios Educativos
de Intervenção Prioritária (2012), que levou mais meios às escolas das
zonas críticas para reduzir a indisciplina, o absentismo e o abandono
escolar.

Francisco fotografado num parque desportivo em Lisboa. Paulo Pimenta
Francisco frequentou o Escolhas lá do bairro. “Pintava, desenhava,
fazia os trabalhos de casa. Aquilo, para mim, era muito bom.”
Permitia-lhe chegar à escola com os trabalhos feitos e conviver com
pessoas de outros contextos. “Quando os técnicos mudavam, era uma
choradeira.” Foi com eles que pela primeira vez foi à praia.
Nunca os pais lhe perguntaram se já fizera os deveres escolares.
“Nunca foram à escola. Não sabem ler. O meu pai era o filho mais velho
e tinha de ajudar os meus avós. E a minha mãe era das mais novas e
tinha de ajudar a cuidar da casa. A escola estava ausente dos nossos
processos de socialização enquanto família.”
A expectativa, lá em casa, era evidente. “O meu avô foi vendedor. O
meu pai é vendedor.” Só que o rapaz olhava para o espaço verde em
frente a casa e idealizava outro futuro. Feito o 9.º ano,
matriculou-se num curso profissional de Gestão de Desporto.
“Houve um esforço da escola para me perceber e para me ajudar, tendo
em conta as dificuldades”, sublinha. Facilitou o agrupamento ter sido
considerado Territórios Educativos de Intervenção Prioritária. “Havia
psicóloga, assistente social, mediadora cigana. E elas iam-me
ajudando, iam-me motivando, a par de alguns professores.”

Francisco Azul na Academia de Política das Comunidades Ciganas, organizada pelo Conselho da Europa com o apoio da Associação Letras Nómadas. Daniel Rocha
Até então, não havia qualquer política pública específica. Só quando a
Comissão Europeia instou os Estados-membros (2011), Portugal admitiu
necessidade e aprovou uma Estratégia Nacional para a Integração das
Comunidades Ciganas (2013-2023).
O primeiro Estudo Nacional (2014) traçou um retrato de pobreza
persistente e de exclusão nas mais diversas esferas. O ACM percebeu
que não bastava esperar que cada área fizesse a sua parte — Habitação,
Saúde, Educação, Emprego e Formação Profissional, Segurança Social.
Era preciso sensibilizar, combater a discriminação, promover o ensino
da história e da cultura ciganas, a igualdade de género, o
associativismo. Lançou o Fundo de Apoio à Estratégia Nacional para a
Integração das Comunidades Ciganas (2015), que financia pequenos
projectos desenvolvidos por entidades públicas e privadas sem fins
lucrativos. E o Programa de Apoio ao Associativismo Cigano (2017).
O Conselho da Europa tinha entrado no jogo, em 2011, com o projecto
Romed, primeiro formando mediadores e incentivando a criação de
associações, depois incitando grupos de acção local. Na sequência
disso, a sociedade civil ensaiou práticas de acção positiva.
Nasceram novas políticas públicas: o OPRE (2016) para ajudar pessoas
ciganas a frequentar o ensino superior. E o Roma Educa (2019) para
fortalecer as que ainda estão no 3.º ciclo do básico e do secundário.
E o ROMED (2019) para capacitar líderes, formar mediadores, estimular
a criação de grupos de acção local.
“Acho que estamos a fazer história”, diz Bruno Gonçalves, que é uma
das figuras centrais do OPRE e do ROMED e foi quem esboçou a ideia do
que veio a ser o Roma Educa. “Pela primeira vez, temos políticas de
afirmação positiva. De certo modo, [estas são políticas de] reparação
histórica. Neste momento, temos quase 40 licenciados.”

Bruno Gonçalves no espaço da Associação Ribalta Ambição, na Figueira da Foz. Paulo Pimenta
Francisco participou logo no projecto-piloto do OPRE, promovido pela
Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres e pela Associação
Letras Nómadas (2015). Teve direito a bolsa, mentoria, curso de
capacitação. A esse respeito, gosta de citar Olga Mariano: “Podemos
ser quem quisermos sem deixar de ser quem somos.” Ainda estava a
estudar quando começou a trabalhar no ACM. É um dos técnicos do Núcleo
de Apoio às Comunidades Ciganas.
“Gostamos de resultados imediatos”, observa. “Quando falamos em
comunidades ciganas, temos de pensar num trabalho de várias gerações.”
O ponto de partida era muitíssimo baixo. “Estamos a começar a ver
resultados agora.”
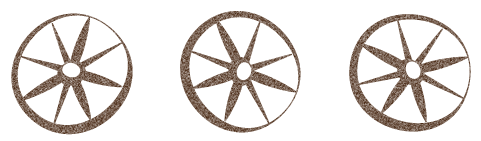
Tensão entre tradição e modernidade

Susana Silveira é uma das primeiras portuguesas ciganas ao volante de um TVDE. Paulo Pimenta
Aos 50 anos da Revolução, os portugueses ciganos estão mais visíveis do que nunca. Pelas estimativas do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, há uma forte concentração em bairros sociais (46%), mas representam 3% da população aí residente. Há possibilidade de encontro nos bairros, nas escolas, nas universidades, nos centros de saúde, nos hospitais, nos centros de emprego, nos centros qualifica, no mercado de trabalho formal, nas superfícies comerciais, nas zonas de lazer…
Com a instauração da democracia e a adesão à União Europeia, Portugal
viveu uma mudança acelerada. Prolongaram-se os percursos escolares,
aumentou a idade média do casamento, diminuiu o número de filhos, há
mais divórcios, mais esperança de vida. “Com os ciganos, que estiveram
tanto tempo num processo de rejeição e afastamento histórico, a
abertura vai sendo feita mais devagar, pouco a pouco”, resume Maria
Manuela Mendes.
Os estudos apontam para dinâmicas que concorrem para preservar as
tradições, como os casamentos entre ciganos e o controlo social. E
dinâmicas que concorrem para a mudança: além dos mencionados ao longo
do texto, o acesso generalizado à comunicação social e às tecnologias
de informação e comunicação.

Susana está divorciada e é mãe de dois filhos. Paulo Pimenta
Susana Silveira (n. 1989) está a desbravar caminho. É uma das primeiras portuguesas ciganas a conduzir no universo de Transporte Individual e Remunerado de Passageiros em Veículos Descaracterizados a partir de Plataforma Electrónica (TVDE). Co-fundou a associação Costume Colossal (2019). Está divorciada e é mãe de dois filhos.
Também saiu da escola aos nove anos com um destino traçado. E durante
anos não se desviou. Aos 18 anos, casou-se com um rapaz cigano,
mudou-se de Almada para o Norte do país e iniciou-se nas vendas porta
a porta. Confrontada com o declínio do modelo de negócio tradicional,
tentou outros mercados. Durante um ano, experimentou trabalhar em
vendas no México. Tornando a Portugal, pôs-se a fazer um circuito de
feiras. Perante a crise da dívida soberana (2009), fez as malas e foi
para o Brasil.
Queria dar o salto, mas sentia as limitações da baixa escolaridade.
Sabia argumentar, regatear, persuadir. Tinha experiência,
responsabilidade, autonomia. “Embora tivesse capacidade para estar à
frente de uma loja e vender tudo e mais alguma coisa, ficava aquém,
porque não tinha escolaridade suficiente.”

Susana trabalhou no México e no Brasil, mas acabou por regressar para Portugal. Paulo Pimenta

Circula na Área Metropolitana de Lisboa. Paulo Pimenta
Não se pode dizer que tenha ficado parada. “Procurei todas as ajudas
que havia.” Tornou-se frequentadora assídua de um gabinete de inserção
profissional. Teve oportunidade de aprender a usar um computador e de
trabalhar na área da contabilidade. Com a mãe doente, a perder o
andar, assumiu o papel de cuidadora. Veio a pandemia de covid-19,
pôs-se a fazer vendas através do Facebook. Há um ano, fez o curso de
condutora TVDE.
A plataforma não a discrimina por ser cigana. “Temos muitas pessoas de
etnia cigana empresárias de TVDE que podem facilitar o aluguer do
carro.”
Ao conduzir pela Grande Lisboa, é amiúde tomada por brasileira. Se
questionada, clarifica: “Sou portuguesa.” Alguns arriscam: “És
portuguesa, mas és diferente”. Esclarece: “Sou cigana.” E há clientes
que saltam ais de espanto. “Não esperam ver uma cigana trabalhar. As
ciganas, naquilo que é a visão que as pessoas têm, está em casa a
cozinhar e a tomar conta dos filhos.”
“Estamos a percorrer o mesmo caminho que vocês”, sublinha. O que se
dizia há 40 anos das mulheres que se divorciavam e saiam de casa para
trabalhar? “Estou a trabalhar para sustentar os meus filhos. A minha
filha tem 13 anos e passou para o 8.º e o meu filho tem 11 e passou
para o 6.º. Dou-lhes a oportunidade de sonhar com algo que eu na idade
deles nem sabia que era viável: uma profissão, uma carreira.”
Quando se lhe pergunta que tradições ciganas importa preservar, remete
para os valores. Fazendo a mesma pergunta a outros activistas, as
respostas vão-se repetindo: o amor pelas crianças, o casamento cigano,
o respeito pelos mais velhos, as leis, o luto.
As “leis ciganas” não estão escritas. São de transmissão oral. Regem a
vida familiar e social das comunidades ciganas. Servem para mediar
conflitos. Também há quem lhes chamada “leis de apaziguamento”.
Vista sobre o Bairro da Biquinha, em Matosinhos. Paulo Pimenta
No Bairro da Biquinha, em Matosinhos, por exemplo, podemos encontrar
um “homem de respeito”, “homem de leis”, “homem de paz”: José Maria
“só” (n. 1947), a quem a idade e as mazelas pedem descanso.
Procurou sempre levar uma vida honrada, com a mulher, Ivone Gregório
(n. 1951). Sempre respeitou as tradições. Sempre trabalhou. “Quando
precisavam de um guarda, mandavam-me chamar. Trabalhei 12 anos nos
frigoríficos. Depois fui para o aeroporto três anos. Vim aqui para o
Hospital Pedro Hispano dois anos...”
O Bairro da Biquinha é grande, mas os residentes ciganos estão
concentrados em dois blocos situados na mesma rua. “Muito barulho.
Muita conversa. Às vezes, zaragata. E eu não gosto. Sou a pessoa mais
velha aqui. Qualquer coisa, mandam-me chamar.”

José Maria e Ivone Gregório à porta de casa no Bairro da Biquinha. Paulo Pimenta

José ajuda Ivone a apertar o avental. Paulo Pimenta
Não sendo familiar de uma das partes, sendo a sua autoridade acolhida,
ouve o que há a dizer e “dita as leis”. “Meto-me ali no meio. Falo com
um, falo com o outro. ‘Olha, tu estás a fazer mal, recebe o bem dessa
pessoa’, e aqui fazemos uma família entre todos.”
Quando se lhe pergunta que tradições ciganas importa preservar, fala
no amor pelos filhos, as filhas, a mulher. Só a seguir refere a
palavra dada, a virgindade das mulheres solteiras, o casamento cigano,
a fidelidade das pessoas casadas, o respeito pelos mais velhos, o
luto.
Na virgindade das mulheres solteiras assenta a honra das respectivas
famílias. “Vamos supor. Se eu tiver uma filha e ela estiver pronta
para casar com o tipo que ela gosta, ela tem que estar honrada, está a
perceber? Se estiver desonrada, vai-se embora.” É rejeitada? “Vai-se
embora daqui para fora. Pode ser uma filha minha ou de outro qualquer,
a gente manda embora.”

José e Ivone com alguns edifícios do bairro, ao fundo. Paulo Pimenta
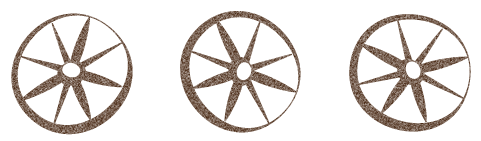
Esperança no futuro
Nesta permanente tensão entre tradição e modernidade, resistir ou
deixar ir, as condições de vida continuam difíceis. Embora sejam
feitos em zonas residenciais de concentração de pessoas ciganas,
deixando de fora as classes médias e altas que vivem dispersas pelo
território nacional, os inquéritos da Agência dos Direitos
Fundamentais da União Europeia não deixam de ser um indicador: em
2021, 96% da população portuguesa cigana vivia abaixo do limiar da
pobreza, 56% em privação material severa; as mulheres ciganas vivem em
média menos dez anos do que as outras portuguesas e os homens ciganos
menos 8,5 do que os outros portugueses.
“Já não vai ser no meu tempo, mas acredito que os meus filhos vão
viver uma realidade diferente”, torna Sónia Matos. O rapaz está com 13
e a rapariga com seis. Será uma questão de décadas, portanto.
Os sinais estão aí. “Tenho visto cada vez mais meninas no 8.º e no 9.º
ano.” Da última vez que esteve numa escola, foi abordada por uma. “Eu
quero ser como vocês. O que é que eu posso fazer?”, perguntou. “Tens
de continuar a estudar. Por mais que te digam ‘não é para nós’,
continua.” Sónia julga que conseguirá. “A mãe [daquela menina] não
liga ao que dizem”. Não deverá ceder à pressão para a retirar da
escola antes que se apaixone por um não-cigano.
Há lutas para dentro e lutas para fora. Explicar que estudar não
impede de ser cigano é uma luta para dentro. Explicar que nem todos os
ciganos são iguais é uma luta para fora. Sónia e outros activistas
actuam nas duas frentes.
“Os professores interiorizam que estas crianças não vão dar em nada,
que não vale a pena”, lamenta. “Hoje há mais abertura. Há professores
com uma vontade e um pensamento diferente dos mais antigos. Acho que é
por aí que a gente pode fazer a alteração. Acredito que a comunidade
cigana vai conseguir por via da educação.”

As mulheres ciganas vivem em média menos dez anos do que as outras portuguesas e os homens ciganos menos 8,5 do que os outros portugueses. Adriano Miranda
Nesse caminho de inclusão, também será preciso mais abertura de quem tem ofertas de emprego e casas para arrendar ou vender. Sónia pode estar um dia inteiro a contar histórias de racismo, ciganofobia, discriminação que obrigam a morar em bairros sociais e a figurar em listas de desempregados. Mudar isso “diz respeito a todos”.

Portugueses ciganos – uma história com cinco séculos
Nesta série especial multimédia de cinco capítulos, começámos por procurar vestígios da longa viagem feita por estes povos, desde a Índia até Portugal. Revisitámos a sucessão de leis repressivas de que os ciganos foram alvo em território nacional e damos conta de um esforço novo para resgatar esse e outros aspectos da sua história. Procurámos perceber o que mudou desde o 25 de Abril de 1974. Ouvimos contar o quanto custa sair da margem, ultrapassar a ciganofobia e conquistar um emprego. E verificámos que ainda há quem seja forçado a levar uma vida nómada.
Referências bibliográficas e audiovisuais
BLANES, Ruy Llera,
Os Aleluias – Ciganos Evangélicos e Música, Imprensa de
Ciências Sociais, 2008.
BRINCA, Ana, “’Da pobreza ao enriquecimento, da fronteira à
mistura’: ser cigano antes e depois do 25 de Abril à luz de uma
abordagem estrutural-dinâmica, in BASTOS, José Gabriel Pereira
(org.) Portugueses Ciganos e Ciganofobia em Portugal, Edições
Colibri, 2012.
CASA-NOVA, Etnografia e produção de conhecimento –reflexões críticas
a partir de uma investigação com ciganos portugueses, ACM, 2009.
Ciganos no distrito de recrutamento militar, RTP, 1974/8/8,
FERREIRA, Teresa Leal (coord), Caracterização das condições de
habitação das comunidades ciganas residentes em Portugal, Instituto
da Habitação e da Reabilitação Urbana, 2015.
MENDES, Maria Manuela, MAGANO, Olga, CANDEIAS, Pedro,
Estudo Nacional sobre as comunidades ciganas, ACM, 2014.
MENDES, Maria Manuela,
Nós, os Ciganos e os Outros, Livros Horizonte, 2005.
MONTENEGRO, Mirna,
Aprender a Ser Cigano, Hoje: Empurrando e Puxando Fronteiras,
Universidade de Lisboa, 2012.
Roma in 10 European Countries, FRA, 2022.
RODRIGUES, “Associativismo cigano no feminino e o seu papel de
regulação das disfuncionalidades da tradição cigana: um estudo de
caso na AMUCIP, in BASTOS, José Gabriel Pereira (org.)
Portugueses Ciganos e Ciganofobia em Portugal, Edições
Colibri, 2012.
FICHA TÉCNICA
Coordenação: Ana Cristina Pereira e Joana Bourgard Textos: Ana Cristina Pereira Edição de textos: Sérgio B. Gomes Fotografia: Paulo Pimenta Video: Teresa Miranda Infografia: Cátia Mendonça Ilustração: José Alves Desenvolvimento web: Francisco Lopes Direcção de arte: Sónia Matos
Gerir notificações
Estes são os autores e tópicos que escolheu seguir. Pode activar ou desactivar as notificações.
Gerir notificações
Receba notificações quando publicamos um texto deste autor ou sobre os temas deste artigo.
Estes são os autores e tópicos que escolheu seguir. Pode activar ou desactivar as notificações.
Notificações bloqueadas
Para permitir notificações, siga as instruções:






