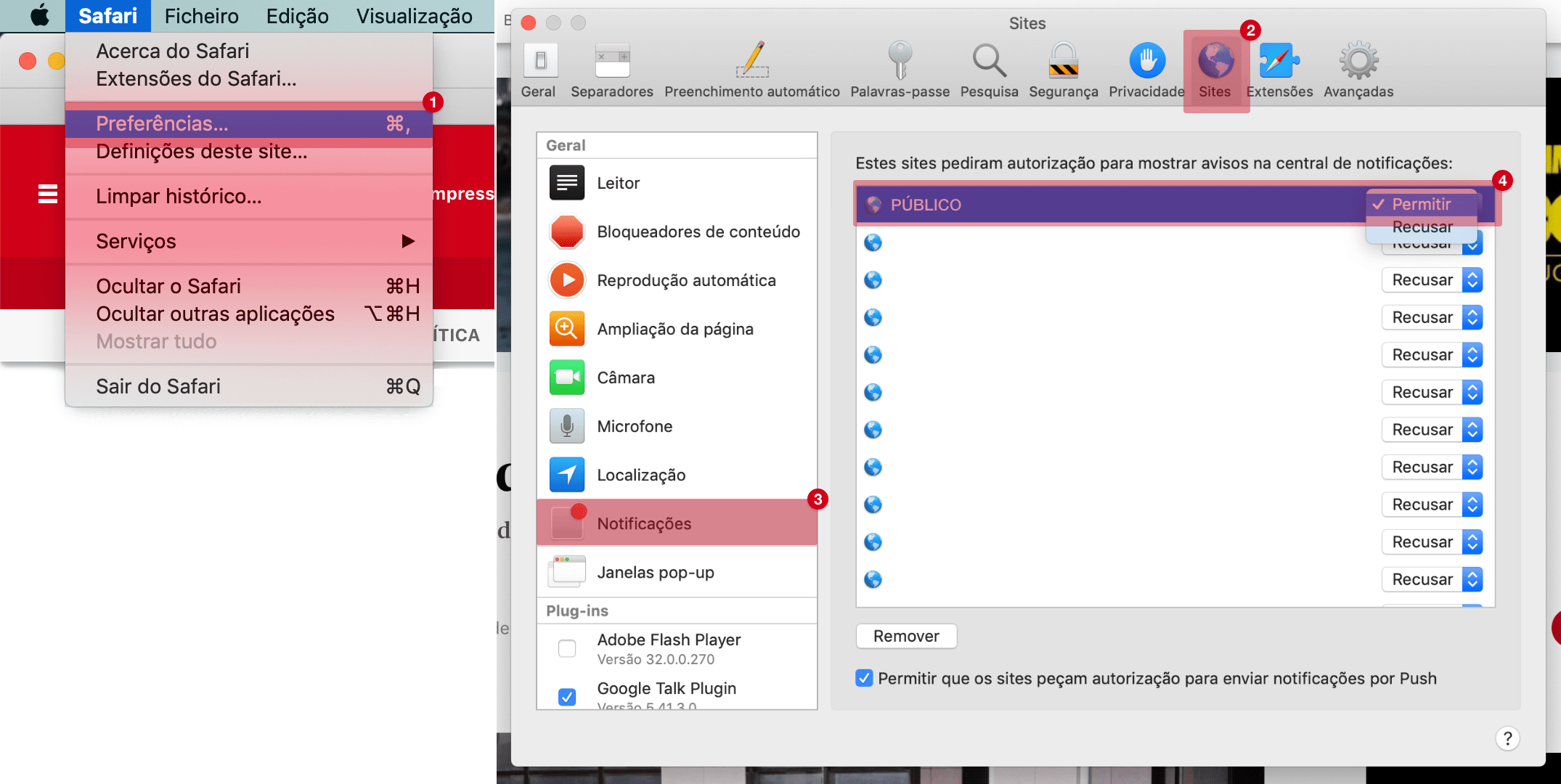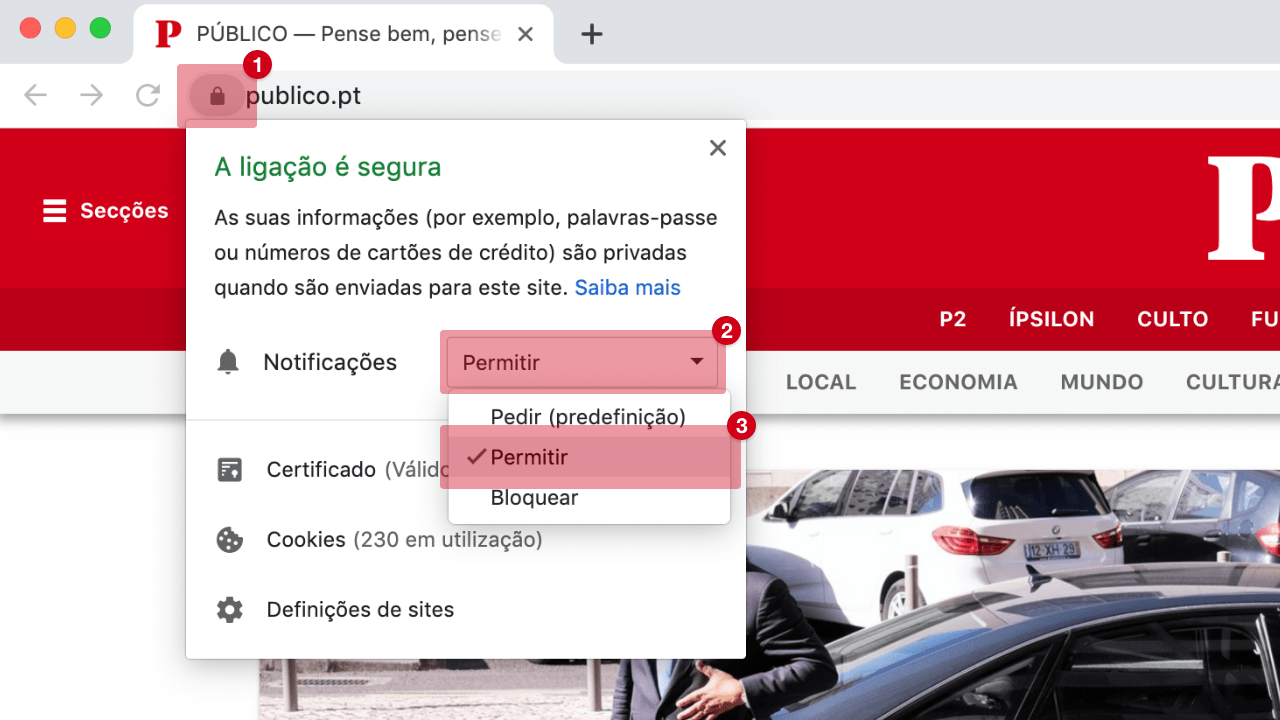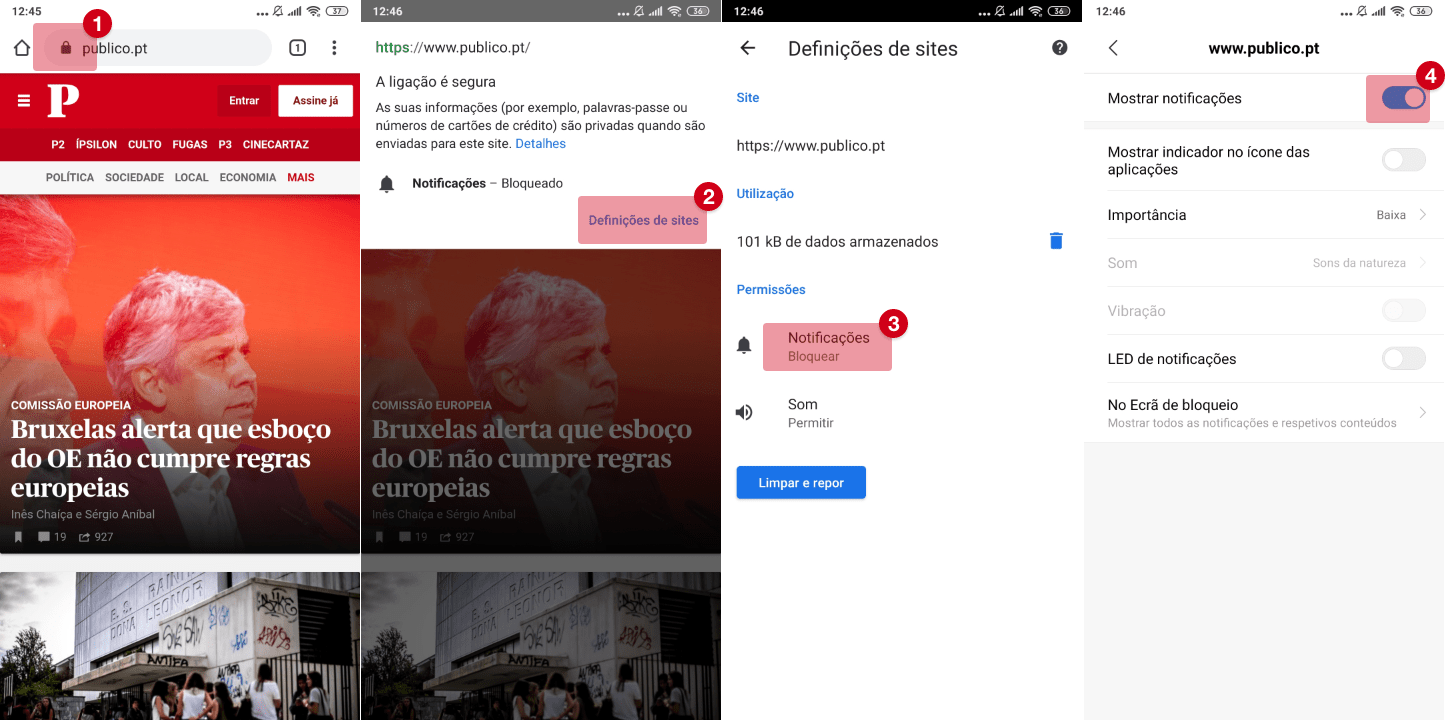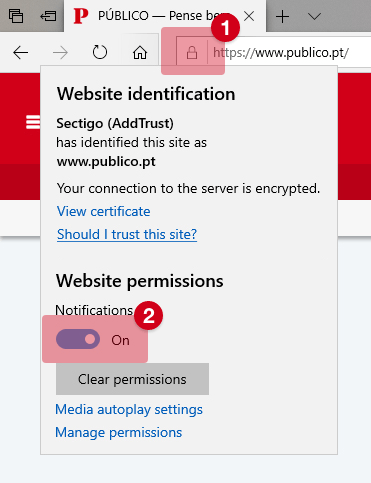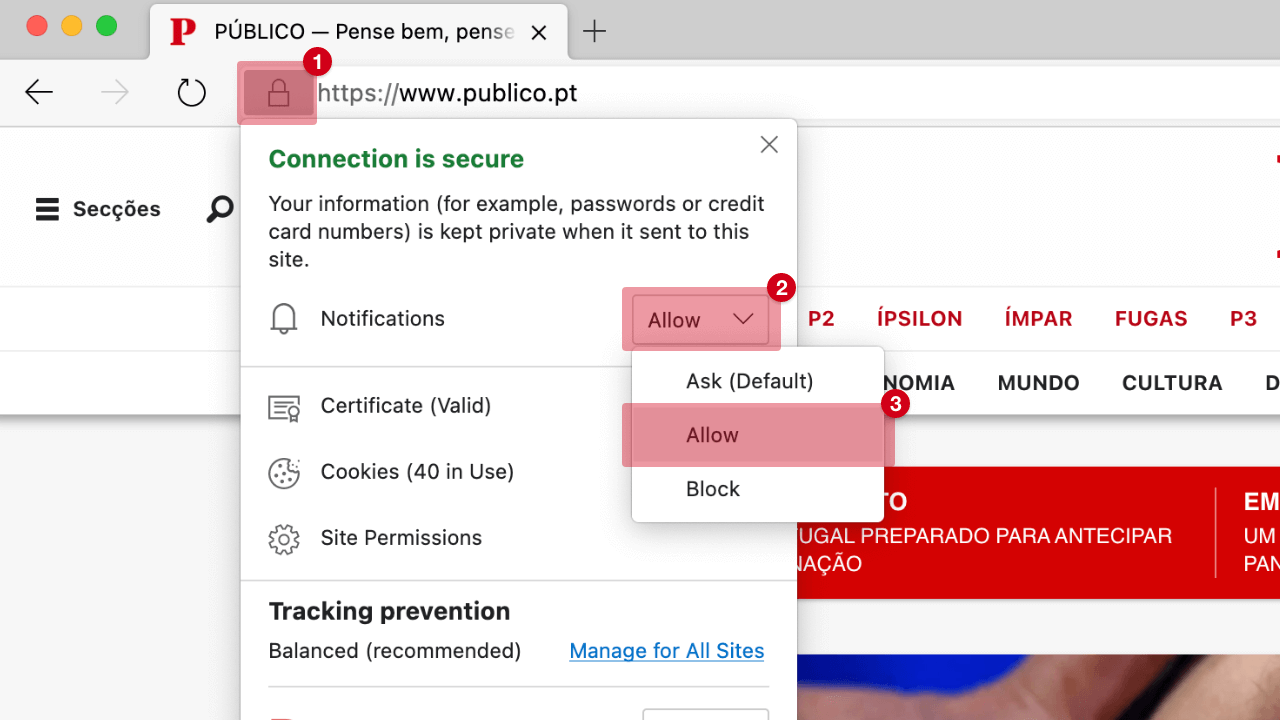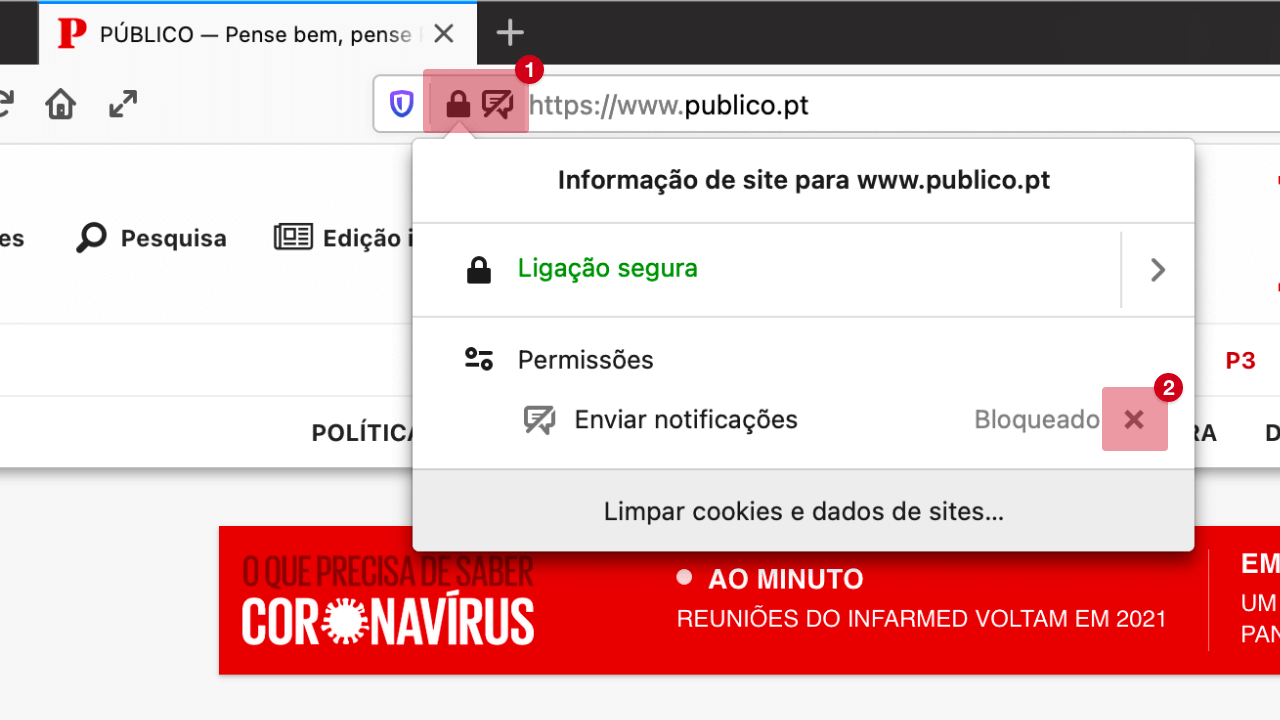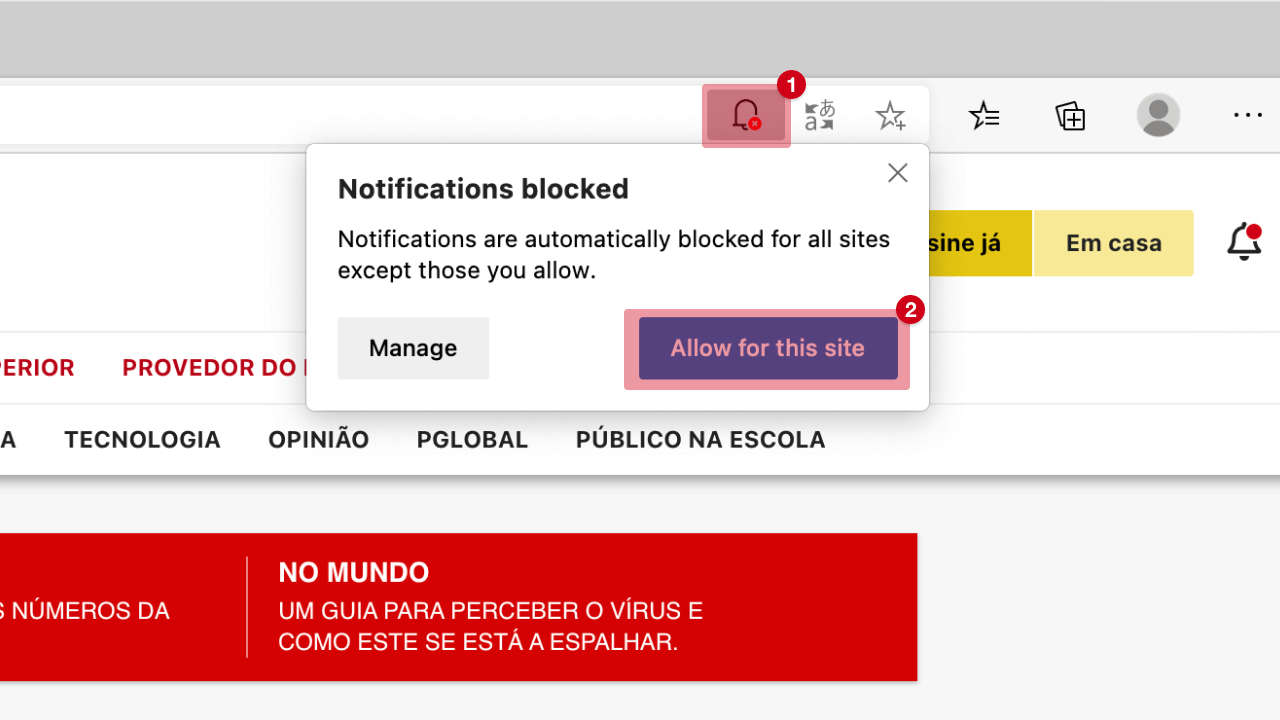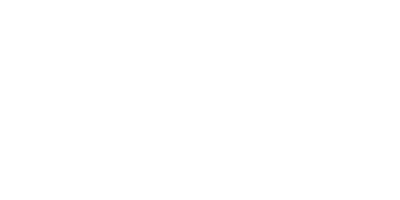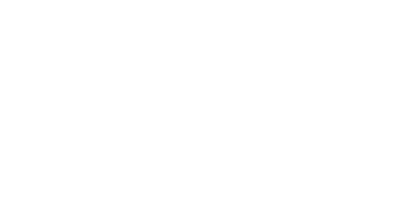O preço do desenvolvimento: crise climática, ambiental e da biodiversidade
Qualquer intervenção humana que no ecossistema natural resulte em impactos negativos, ao nível climático, ambiental e da biodiversidade, terá sempre um “preço a pagar”. O desenvolvimento baseado numa economia de crescimento linear que consome, com processos irreversíveis, recursos naturais muito para além do que necessita, à luz das leis da Física, implica um aumento contínuo de entropia (energia e/ou matéria dissipada, desperdiçada ou descartada). E o mesmo conjunto de leis diz-nos que a entropia de um sistema fechado tende para um máximo, o qual, ao ser atingido, conduz a um estado crítico ou caótico.
A expressão “não há almoços grátis” é frequentemente usada em economia para descrever o “preço” da má utilização de recursos financeiros para um dado fim, como seja o desenvolvimento baseado no consumo descartável e ilimitado num planeta de recursos finitos. Aqui é substituída por uma expressão derivada de “o preço da fama”, porque a fama tem um preço e o desenvolvimento entrópico também.
O desenvolvimento global que se tem verificado nas últimas décadas atingiu um ritmo tal de consumo de recursos naturais que, exacerbado pelo aumento demográfico, se está a tornar cada vez mais insustentável. Não só porque muitos dos recursos minerais, outrora abundantes, se tornam cada vez mais escassos, limitando e condicionando o mercado de derivados e a sustentabilidade da sua exploração, mas também porque a economia mundial, devido às necessidades imperativas da transição energética e tecnológica, está a tornar-se cada vez mais dependente de novos minerais. Estes, sim, escassos e raros, como o cobalto e o lítio, e por isso com reservas muito mais limitadas.
Para além do esgotamento a prazo das reservas actuais de minerais fósseis, que nos têm proporcionado consumos elevadíssimos de energia e que nos levaram ao desenvolvimento alcançado, a economia mundial tornou-se agora extremamente dependente de novos minerais. Uma boa parte designada “terras raras”, actualmente classificados como “minerais críticos”, por serem, simultaneamente, muito importantes para a economia e de elevado risco de fornecimento. Só na Europa, a lista de minerais críticos aumentou de 14 para 30 nos últimos 12 anos.
Os impactos negativos que têm vindo a verificar-se sobre o ambiente, sobre a saúde pública e sobre a biodiversidade estão a ter consequências irreversíveis. Sobre o ambiente, temos o impacto de elevados níveis de poluição por agentes químicos e consequente degradação de solos, água, ar e ecossistemas naturais ao nível global.
Sobre a saúde, observamos o consequente e contínuo aumento de doenças graves e mortes associados a ondas de calor e à poluição do ar, das águas e dos solos, bem como o aumento de novas pragas e epidemias, quer por via das zoonoses, quer por via de novos vectores.
Sobre a biodiversidade, os impactos resultam na consequente extinção de um elevado número de espécies animais, que se tem vindo a intensificar há mais de um século. A perda de biodiversidade e os níveis de poluição e contaminação do meio apresentam um impacto negativo a longo prazo que resulta na perda de serviços ecológicos desempenhados por muitas das espécies que se irão extinguir ou migrar.
As alterações climáticas, para além das implicações directas sobre a humanidade, acabam por exacerbar o problema da extinção de espécies e da perda de biodiversidade. E pelo facto de a humanidade estar agora a correr atrás do prejuízo, tentando redimir-se e corrigir os estragos já consumados, acaba por tomar decisões que podem amplificar ainda mais os problemas, em vez de os reduzir. As opções tecnológicas adoptadas para a transição digital e energética, como hipotéticas soluções de mitigação climática, acabarão por agravar ainda mais os vários problemas ambientais, climáticos e de biodiversidade, à semelhança do que já aconteceu em civilizações antigas.
Se outras civilizações no passado enfrentaram problemas semelhantes que as levaram ao colapso, pergunta-se: porque é que nós temos de passar pelo mesmo? Será que nos espera um mesmo destino, o colapso civilizacional? Já estudámos todas essas civilizações antigas, sabemos os problemas que enfrentaram e parte dos erros que cometeram.
Os processos que levaram essas civilizações ao colapso são bem conhecidos e podem ser classificados em sete categorias: destruição dos habitats; degradação dos solos (perda, erosão e lixiviação); redução dos recursos hídricos; caça e pesca excessivas; introdução de novas espécies; aumento demográfico; e aumento dos impactos per capita. Aos quais acresce também as mudanças do clima.
Conhecemos muito melhor os problemas que enfrentamos hoje, mais do que essas civilizações no passado conheciam os seus, bem como as suas causas. Porque estaremos a cometer os mesmos erros, ou erros muito semelhantes? As civilizações antigas que colapsaram (Anasazi, Maias, antiga Gronelândia, Angkor Wat, Grande Zimbabwe, Vale Indu Harapan, Ilha da Páscoa, entre outras) viviam num mundo local, hoje vivemos num mundo global.
Essas civilizações dependiam apenas de recursos locais e da sua vizinhança; nós conseguimos explorar recursos nos locais mais longínquos, nos lugares mais inóspitos e a profundidades já mais imagináveis. Essas civilizações tinham organizações sociais relativamente simples, suas populações eram pequenas; nós, pelo contrário, somos uma sociedade complexa, com uma população incomensuravelmente maior, com recursos e tecnologia altamente sofisticados que nos tornam uma civilização cada vez mais complexa. E como se resolvem os graves e complicados problemas de um sistema complexo? O conhecimento da ciência e da tecnologia tem ajudado. Mas há um limite.
Enquanto uns defendem e praticam o “discurso prometeico”, a realidade conduz-nos ao “discurso dos limites”. Os políticos, economistas, decisores e governantes têm vindo a acreditar, ou a fazer-nos acreditar, que a ciência e a tecnologia, tal como no passado recente, terão sempre uma solução para qualquer problema que surja, independentemente da sua complexidade ou dimensão. Aplicam o discurso prometeico. De forma errada, baseiam-se na lei de conservação das massas postulada pelo químico Antoine-Laurent de Lavoisier, que o levou a afirmar que “na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”.
Ao passo que a maior parte dos cientistas apela à consciencialização da realidade física e dos seus limites. Aplicam o discurso dos limites. Os cientistas alertam-nos que ao tentarmos resolver um problema complexo, acabamos por criar outros problemas, aumentando ainda mais a sua complexidade. Exemplos não faltam, especialmente na área da ecologia ambiental. Os cientistas até nos podem dizer que, em teoria (de acordo com a Lei de Lavoisier), seria possível transformar qualquer metal em ouro. Mas a energia necessária para o fazer não a temos disponível. Ou seja, em teoria, tudo ou quase tudo seria possível, mesmo até inverter o aquecimento global através de geoengenharia, mas entre o mundo teórico e o mundo físico real vai uma grande distância. Existe uma linha que os separa… tal como a linha que separa os políticos dos cientistas.