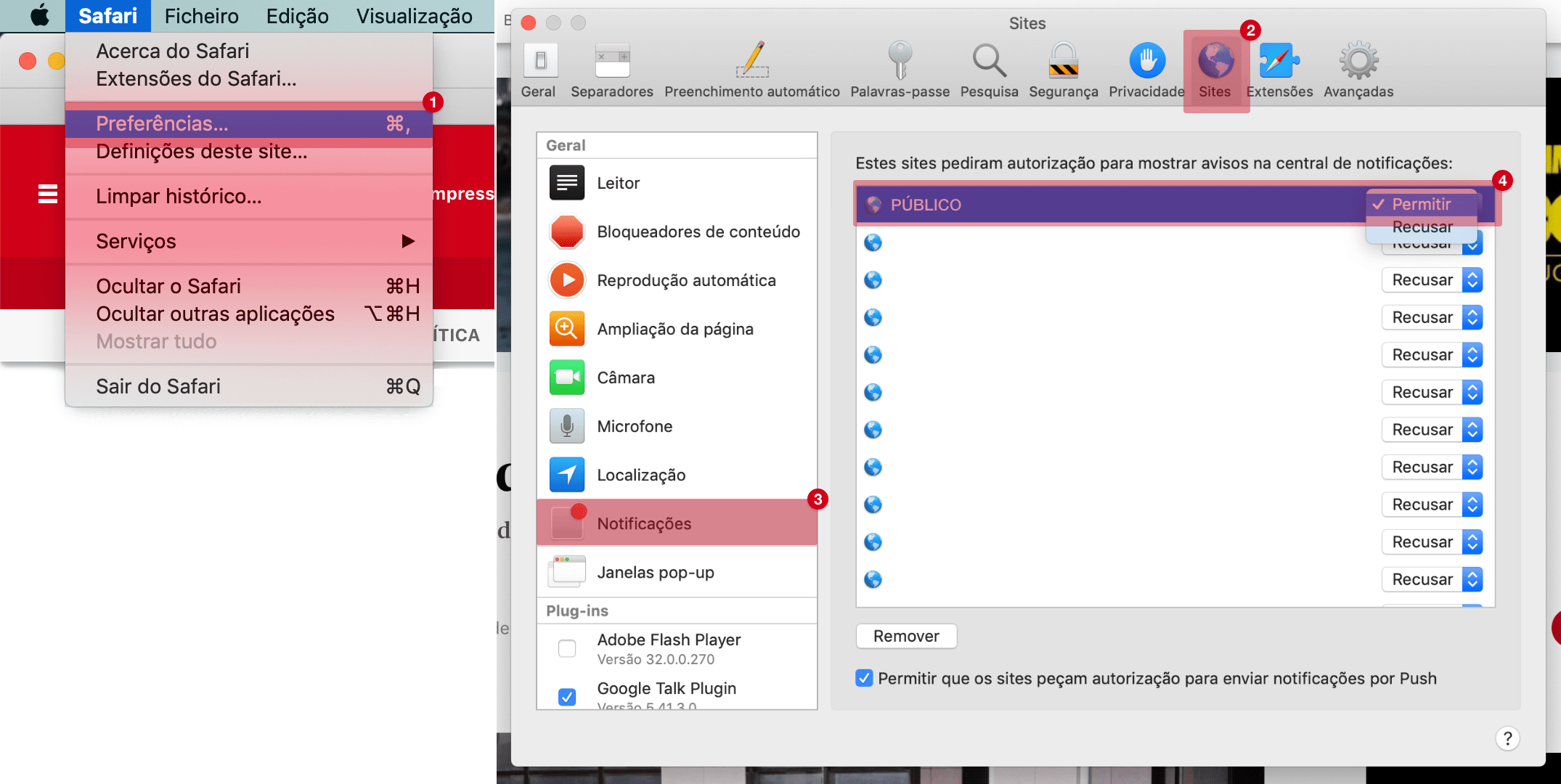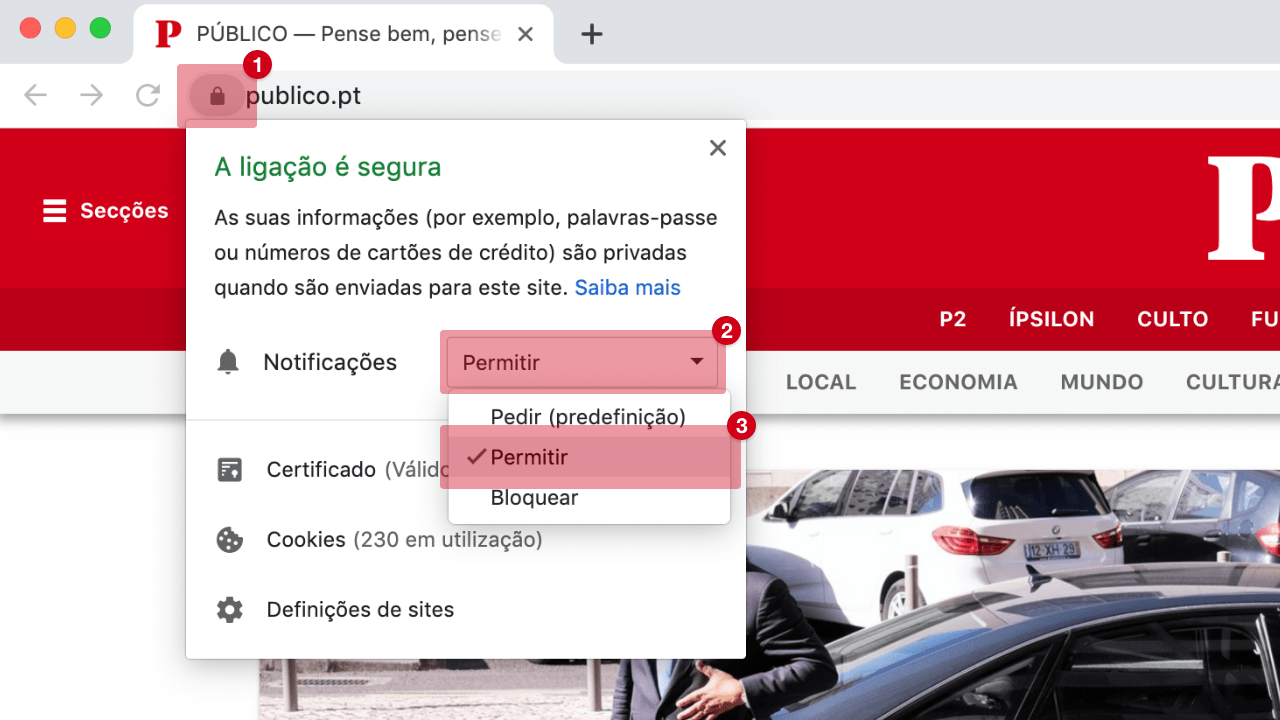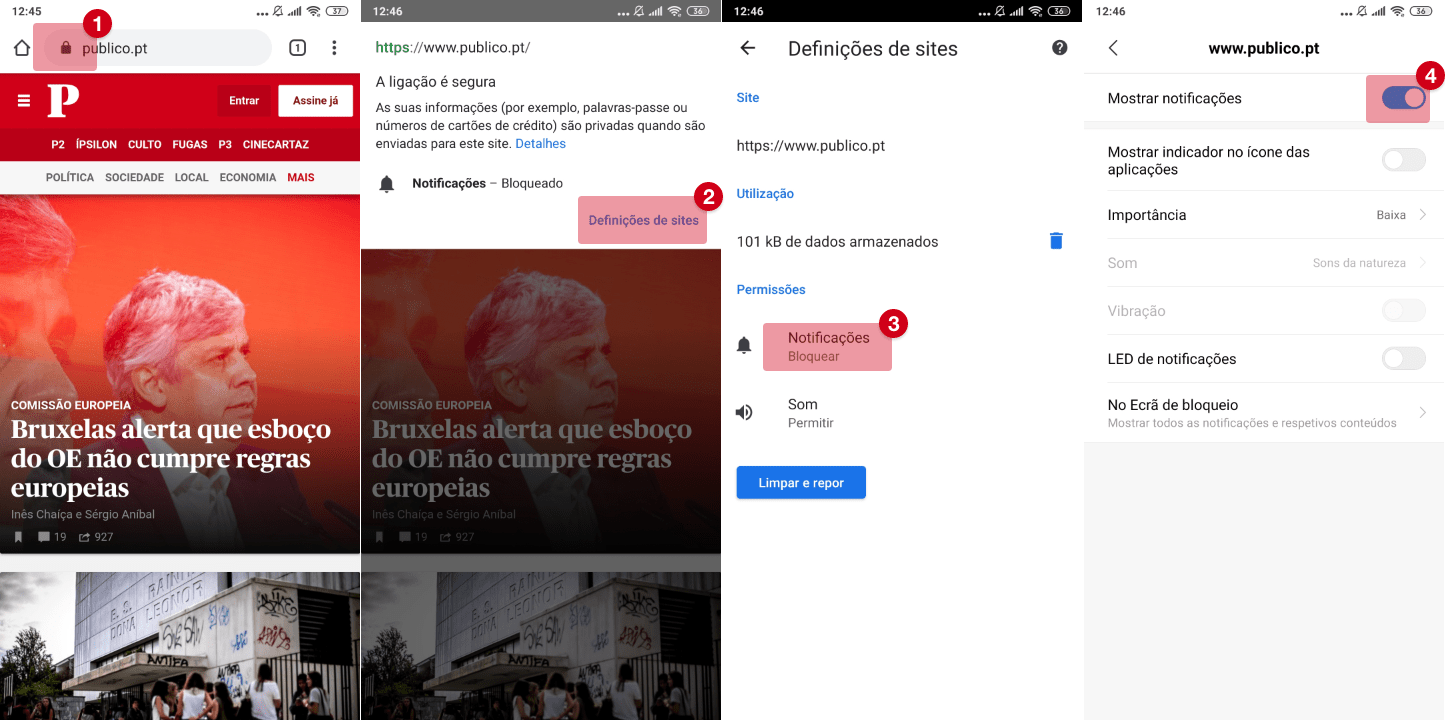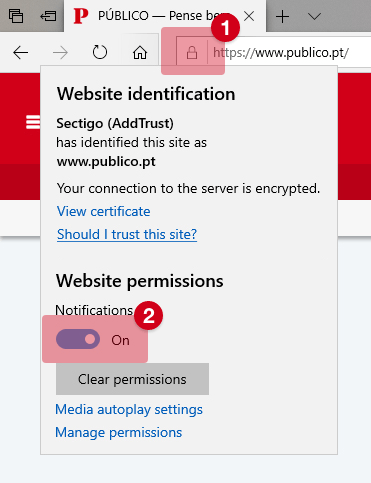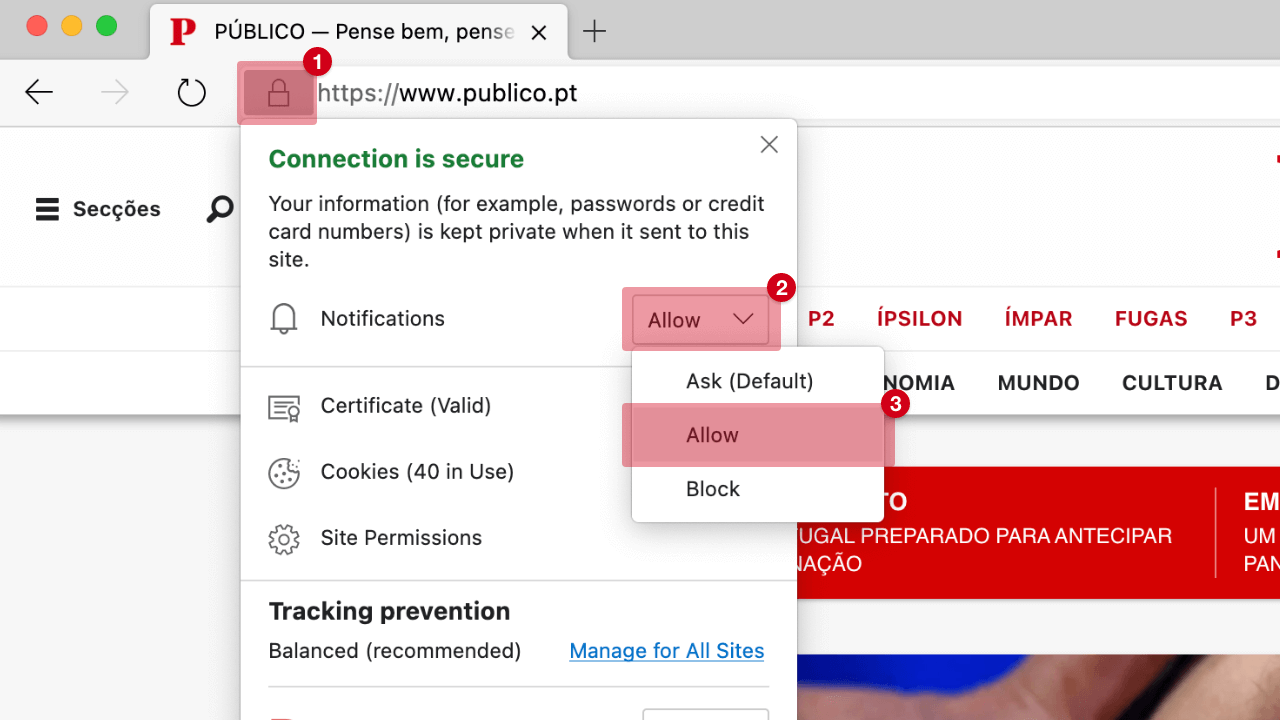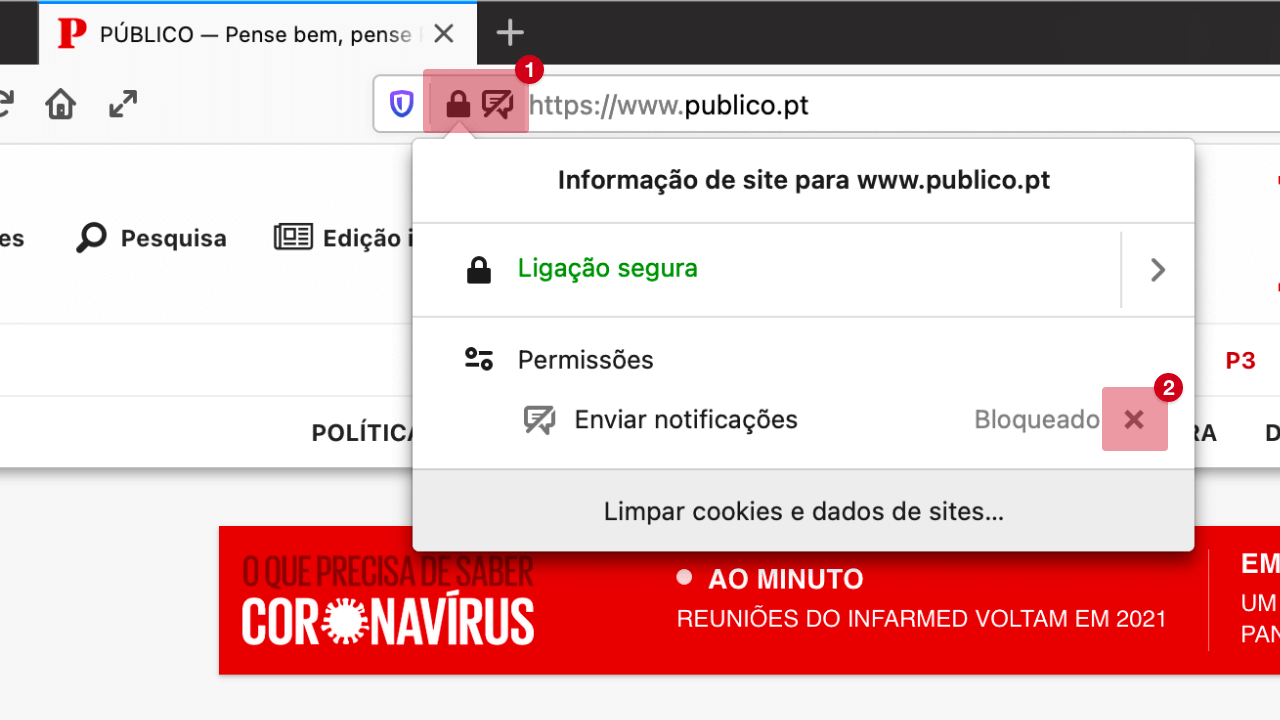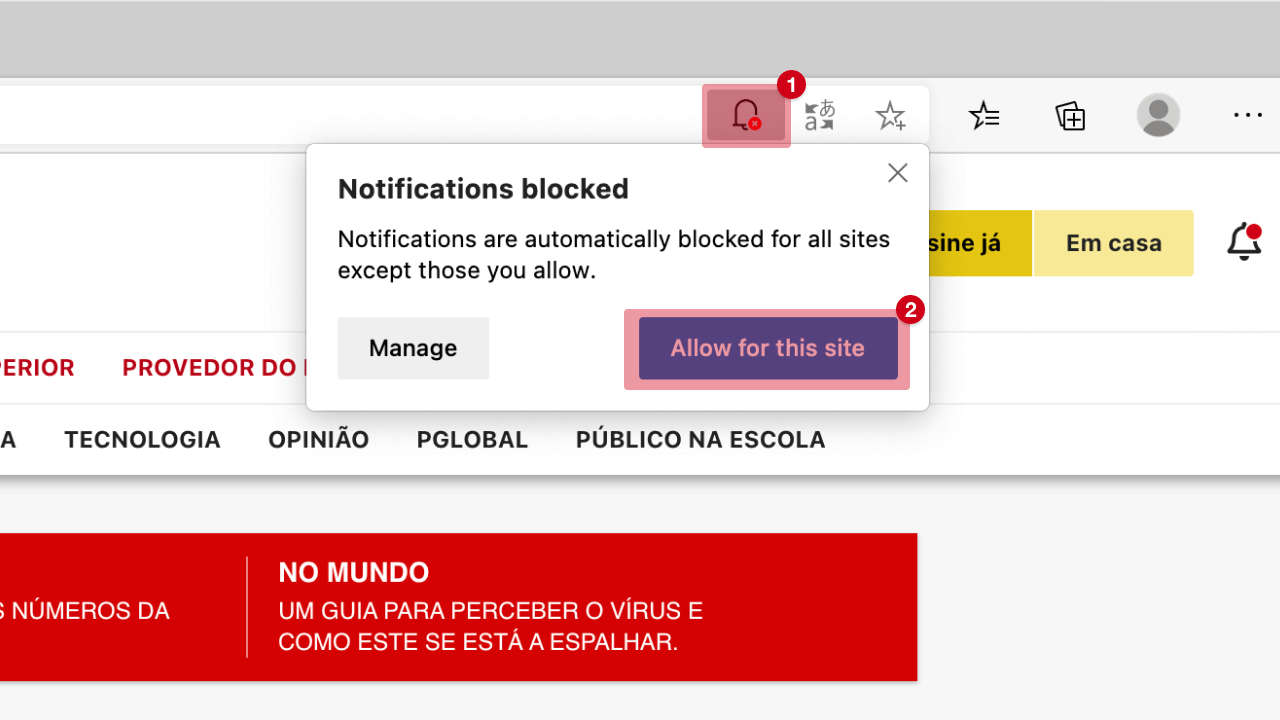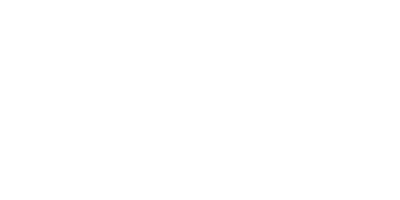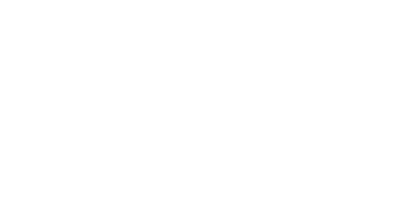De 300 mil para 300 anos: Laurence Harwood tem uma solução para os resíduos nucleares
Ainda não existe solução para o lixo nuclear, que demora milhares de anos a perder radioactividade. Equipa do químico orgânico Laurence Harwood encontrou uma forma de reduzir armazenamento a 300 anos.
Encontrar uma solução para o tratamento do combustível nuclear usado é fundamental para que as centrais nucleares possam ser uma hipótese sem tantas ressalvas. A produção de energia nuclear é quase neutra em termos de emissões de carbono (não estamos a contar com a construção das estruturas), mas o combustível nuclear irradiado continua a conter material radioactivo durante milhares de anos — mais precisamente, com um tempo de armazenamento de cerca de 300 mil anos.
O químico Laurence Harwood, professor emérito da Universidade de Reading (Reino Unido), não ignora este elefante na sala — pelo contrário, convida-o a ficar e tenta conhecê-lo melhor. Procura olhar estes resíduos de muito elevada actividade (high level waste, HLW) como um recurso, ao invés de um problema — e, pelo caminho, resolver um dos grandes problemas que a humanidade tem adiado nas últimas décadas.
“O nuclear já está aí, o génio já saiu da lâmpada há muitas décadas”, insiste o investigador, em conversa com o Azul. E é preciso lidar de forma realista com o problema dos resíduos e reconhecer que ainda não há soluções suficientes. Os resíduos de uns são um problema de todos: “A radioactividade não tem passaporte nem espera por um visto para viajar”, afirma.
Mas o britânico sempre acreditou que é preciso mudar a mentalidade: “Os resíduos são um problema se os deixarmos como estão, mas devíamos vê-lo como um recurso explorável.” Afinal, não há muito urânio no mundo e podemos recuperá-lo desses resíduos, ao invés de “consumi-lo e deixá-lo nesta forma actualmente inutilizável”. “Em vez de extrairmos urânio através da mineração, extraímo-lo dos resíduos nucleares”, propõe o químico.
Laurence Harwood esteve em Portugal em Maio para falar sobre o seu trabalho dos últimos 20 anos, que resultou numa prova de conceito — em laboratório — que mostra que é possível extrair mais materiais radioactivos do que o que se conseguia até agora. Resta saber se o método suportará os testes à escala das necessidades reais.
Um problema nuclear
Até hoje, cerca de 400 mil toneladas de combustível nuclear usado foram retiradas dos reactores nucleares comerciais. Cerca de 30% desse combustível usado passou pelo “reprocessamento”, um método para “reciclar” uma parte dos resíduos nucleares, que actualmente é feito em grande escala utilizando o processo Purex, em que o plutónio e o urânio são extraídos e podem voltar a ser enriquecidos para serem reutilizados. O combustível nuclear irradiado é reduzido a 15% do seu peso original e o urânio e o plutónio separados são reutilizados como “combustível de óxido misto” (MOX).
A nível comercial, este reprocessamento é feito apenas em França, na central La Hague. A construção da central em Rokkasho, no Japão, foi interrompida após o acidente de Fukushima, e o Reino Unido também suspendeu a actividade da instalação de reprocessamento em Sellafield, que o jornal britânico The Guardian descreve como “a central nuclear mais perigosa” do país.
Depois desse reprocessamento Purex, os detritos residuais precisam de ser armazenados “apenas” nove mil anos. “Isso é mais longo do que a história escrita da humanidade, é demasiado tempo”, explica Laurence Harwood. Em jeito de comparação, estima-se que as pirâmides do Egipto, as construções humanas mais antigas que ainda subsistem, terão sido construídas entre há quatro e cinco mil anos.
“Estamos a empurrar o problema com a barriga”
E há ainda um extra: a quantidade de resíduos nucleares acumulados é “altamente tóxica, altamente radioactiva, está a aumentar todos os anos e continua a gerar muito calor”. Estas condições provocam contracção e expansão dos materiais, podem surgir fissuras, os contentores de armazenamento vão corroer-se. “Se colocarmos algo no subsolo, não podemos dizer o que vai acontecer geologicamente daqui a milhares de anos. Este material acabará por vir à superfície”, nota o investigador.
Os resíduos nucleares tendem a ser armazenados em locais próximos da própria central, para evitar os riscos de acidente no transporte, “e o combustível usado fica no local até que se descubra o que fazer com ele”. Contudo, muitos destes reservatórios não foram pensados para conter o material durante os milhares de anos em que ele ainda permanece radioactivo e perigoso.
Esse processo está só agora a começar: na Finlândia, entrará em funcionamento nos próximos anos o primeiro repositório final de resíduos nucleares do mundo, um depósito profundo na ilha de Olkiluoto, cuja construção levou duas décadas e custou cerca de mil milhões de euros.
“Qualquer país que tenha energia nuclear tem um problema cada vez maior para armazenar e tratar”, sublinha o investigador. “Nós estamos realmente a empurrar o problema com a barriga. Estamos a deixá-lo para outras pessoas, outras gerações, e isso é absolutamente imoral. Então, o que é que se faz?”
“O maior salto é ir de zero para 1%”
A radioactividade remanescente depois do Purex deve-se a vestígios de actinídeos menores, um grupo de metais de transição interna que constituem apenas 0,1% do combustível usado original. Remover estes actinídeos menores dos resíduos pós-Purex significaria que o resíduo final precisaria de ser armazenado “apenas” durante 300 anos.
Foi esta a grande vitória da equipa de Laurence Harwood: separar estes actinídeos menores (e radioactivos) dos lantanídeos (terras-raras), quimicamente muito semelhantes, utilizando ligandos orgânicos desenvolvidos na Universidade de Reading.
A técnica utilizada por Harwood, explica, permite algo como remover um grão de sal de uma piscina, descreve, entusiasmado. “Demonstrámos que é possível retirar estes materiais, agora sabemos que pode ser feito — e algo tem de ser feito, porque a alternativa é simplesmente impossível.”
O processo ainda é uma prova de conceito em laboratório, um dos primeiros níveis da chamada prontidão da tecnologia. As possibilidades de desenvolvimento do processo Sanex (extracção selectiva de actinídeos), explica, são diversas. “Pode ser esta molécula em particular ou outra qualquer, pode não ser uma extracção líquida, pode ser a percolação através de uma coluna sólida.”
Mas o que se conseguiu nestes 20 anos já é “um salto enorme”, nota o investigador. “O meu antigo chefe costumava dizer que a diferença entre investigação e desenvolvimento é que a investigação é de zero a 1%, o desenvolvimento é de 1% a 100%. E o maior salto é ir de zero para um, é um aumento infinito — e nós já fizemos o salto de zero para um.”
A sensação, descreve, é que “a recompensa é enorme”. “Se eu descobrisse uma cura para a sida, isso afectaria 50 milhões de pessoas. Mas isto afecta toda a gente durante os próximos 300 mil anos, e é possível que não tenham esse problema. Fiz algo que beneficiará toda a humanidade para sempre.”
Entre a cautela e a inércia
Laurence Harwood estudou química orgânica em Manchester, onde foi professor durante três anos. Depois, conseguiu um emprego em Oxford, no Merton College (onde se cruzou com o escritor JRR Tolkien), e lá ficou cerca de 13 anos. Queria tornar-se professor catedrático antes dos 40 anos e conseguiu-o indo para Reading, como professor de Química Orgânica, dedicando-se à investigação com aplicações farmacêuticas. “Isto do nuclear estava completamente fora da minha área”, explica.
O seu envolvimento começou num projecto a longo prazo para desenvolver o Sanex, a proposta europeia de processo pós-Purex, impulsionada principalmente pela França, que se alimenta em 75% da energia nuclear. Um colega envolvido no projecto, da área da química inorgânica, falou-lhe sobre “algumas moléculas que pareciam funcionar”, mas cuja investigação estava “no limite da sua capacidade como químico inorgânico”.
A lição sobre os benefícios da multidisciplinaridade é óbvia, mas Laurence Harwood conta também o desafio de lidar com uma indústria muitíssimo mais cautelosa do que a farmacêutica, com a qual trabalhou ao longo de quatro décadas anteriores. O que acontece com o nuclear, explica o investigador, é que é melhor não fazer nada do que fazer algo e piorar as coisas — “uma mentalidade de não premir o botão para ver o que pode acontecer, porque 99 vezes pode estar tudo bem, mas à centésima vez…”
Incógnitas
O verso desta moeda é a inércia. “Faz parte da mentalidade das pessoas que trabalham na indústria nuclear que, se eu não fizer nada hoje, não fiz nada de errado. Se não fizer nada este ano, não terei feito nada de errado. Se eu não fizer nada nos próximos dez anos, isso é problema de outra pessoa. É sempre empurrar com a barriga.” O resultado: grande parte das promessas que os defensores do nuclear têm feito ao longo dos anos está ainda longe de se cumprir.
Mesmo que o processo de reprocessamento passe as próximas etapas fora do laboratório e entre em funcionamento, os materiais radioactivos extraídos convertidos em combustível só poderão ser usados em reactores de quarta geração. Só que estes reactores, que “deveriam entrar em funcionamento em breve, provavelmente só entrarão em funcionamento em 2035”, explica Harwood.
E esses não são, sequer, os reactores de que mais se fala no momento: os pequenos reactores modulares (Small Modular Reactors, SMD). Em vez de uma enorme central nuclear, fala-se hoje em apostar em centrais menores que podem ser instaladas em menos de uma década (um reactor maior pode levar mais de 20 anos a ser instalado).
A questão é que também estes reactores são uma tecnologia experimental e ainda não estão a funcionar comercialmente. E aqui voltamos à questão do passo lento desta indústria: nestas matérias, “demora-se sempre mais tempo do que se estava à espera”. Aliás, voltando ainda mais atrás, a aplicação em grande escala da descoberta da equipa de Harwood não deverá estar plenamente funcional no tempo de vida das gerações que hoje são adultas. Remover o elefante na sala dos resíduos nucleares “nunca acontecerá na minha vida, nem provavelmente na sua”, diz ao Azul.
Debates radioactivos
E tamanha regulamentação também não resolve o problema de percepção à volta da energia nuclear, que não conta com muito boa reputação. Há partidos políticos que se opõem absolutamente à energia nuclear, grupos como a Campanha para o Desarmamento Nuclear, e também uma grande parte da sociedade que diz simplesmente que não ao nuclear. “Não conseguimos encontrar um meio-termo entre as enormes consequências de eventuais falhas e o facto de uma catástrofe ser extremamente improvável”, comenta o químico.
Os factos, contudo, trazem alguma nuance a este debate. Depois de Fukushima, recorda Harwood, houve uma queda na aceitação pública da energia nuclear, mas essa aceitação voltou depois a subir, “porque o que aconteceu em Fukushima foi o pior cenário possível e, apesar disso, a Terra não se partiu em duas”. Há registo de apenas uma pessoa que morreu devido a efeitos da radiação: um trabalhador responsável pela medição dos níveis.
Outra parte do debate que se converte em discussões mais acaloradas é a comparação do impacto da instalação de energia nuclear com a de energias renováveis. Estas, argumentam os defensores do nuclear, também envolvem recursos cuja extracção tem um impacto grande e cuja reciclagem também ainda não é um problema resolvido. “Não há vitórias fáceis, há sempre uma contrapartida”, sublinha.
Neste momento, exemplifica o investigador, os painéis solares de primeira geração estão a chegar ao fim da sua vida útil e ainda existem poucas estruturas preparadas para reciclar esses resíduos, que têm materiais como o telureto de cádmio.
Há ainda as baterias dos carros eléctricos, que dependem da extracção de materiais como o lítio, que tem gerado problemas a nível local em vários pontos do globo (não apenas em Portugal), e o cobalto. “A maior fonte de cobalto do mundo é a República Democrática do Congo, onde é extraído por jovens rapazes que ganham dois dólares por semana em condições incrivelmente inseguras e perigosas”, nota o investigador. “Isto é o colonialismo dos tempos modernos. Exportamos a miséria para outro país, assim não a vemos.”
E o futuro?
Numa altura em que a energia nuclear entrou no leque de energias limpas que poderão ser apoiadas pela Comissão Europeia na transição energética, e com a possibilidade de instalar no futuro pequenos reactores modulares, o debate tem-se colocado em vários países: valerá a pena investir na produção de energia nuclear onde ela ainda não existe?
Para Harwood, começar do zero não parece ser uma boa solução numa altura em que vários países já vão com décadas de avanço e ainda assim enfrentam dificuldades.
Tome-se o exemplo da central de Sellafield, no Reino Unido, país com décadas de tradição no nuclear: “O Reino Unido parou o reprocessamento. Está tudo bem, mas se quisermos recomeçar, mesmo que seja apenas para retirar o urânio e o plutónio, vai ter de passar por todo o processo de ser validado, verificado e rigorosamente testado. Provavelmente voltaremos a ter reprocessamento de urânio e plutónio por volta de 2050. É um período de tempo assustadoramente longo”, enuncia o investigador.
Além das questões técnicas, há todo o tipo de obstáculos a ultrapassar: a legislação e as instituições que é preciso criar, a morosidade dos procedimentos e a inércia industrial, o enorme investimento necessário e a massa crítica que é preciso atrair, a oposição política e as questões sociais e ambientais, cujo debate começará do zero.
A solução para países como Portugal? “Tem de ser feito em cooperação e em acordo com outros países”, defende Harwood. Se Portugal escolhesse enveredar por este caminho — que será necessariamente longo, entre começar do zero até chegar a um reactor comercial funcional —, “teria de ser com parceiros europeus”. E não seria para todo o tipo de utilização. “A meu ver, o nuclear em Portugal não se destinaria à produção de electricidade para consumo doméstico, seria um reactor dedicado a funções mais específicas”, pondera. Um pequeno reactor modular, explica, poderia alimentar uma central de dessalinização, por exemplo.
Mas depois seria preciso resolver o problema da água e, claro, o que fazer com os resíduos radioactivos. E há a questão dos custos: a energia nuclear é extremamente cara e, com um longo período de investimento antes de começar a gerar retorno, depende muitas vezes do bolso dos contribuintes.
Os projectos, aliás, são cada vez mais escassos. Em 2020, “um em cada oito projectos de centrais nucleares foi abandonado antes de ser ligado à rede”, contabilizava em 2021 o consultor alemão de energia nuclear Mycle Schneider, em declarações ao PÚBLICO. “Durante as últimas duas décadas (2001-2020), só dois reactores começaram a funcionar na União Europeia: um na República Checa, outro na Roménia”, acrescentava.