Precisamos mesmo de cientistas?
A investigação é movida pelo desejo de conhecer, mas a sua “utilidade” é frequentemente questionada. Hoje vemos os cientistas e os institutos onde trabalham cada vez mais próximos das comunidades.
Mesmo os mais cépticos reconhecerão que chegámos a este ponto de desenvolvimento civilizacional suportados pelo desejo de conhecer mais e compreender melhor. É isso que faz um cientista, qualquer que seja a área do conhecimento em causa. Mas é voz comum dizer que os cientistas trabalham para satisfazer o seu próprio prazer, sem preocupações sobre a “utilidade” do seu objecto de investigação. E pergunta-se então se gastar dinheiro em investigação vale a pena e se precisamos mesmo de cientistas.
Vamos por partes. O prazer é indispensável. Conseguimos perceber (no meu caso é quase inveja) o prazer de um músico quando toca numa orquestra ou de um fotógrafo quando capta emoções. Não devemos castigar o prazer em ter prazer no que se faz com gosto e competência.
Quanto à “utilidade”, é mais difícil medi-la ou antecipá-la. Quando Watson e Crick publicaram na Nature, em 1953, a sua sugestão para a estrutura do ADN – “We wish to suggest a structure for the salt of deoxyribose nucleic acid (D.N.A.). This structure has novel features which are of considerable biological interest” –, alguns, ou muitos, terão pensado que se tratava de um estudo de investigação fundamental sem consequências ou “utilidade”. Tratava-se talvez apenas do trabalho lúdico de dois cientistas.
O tempo veio mostrar as enormes consequências (e “utilidade”) deste trabalho e todas as implicações na nossa vida actual. Dirão que nem todos os trabalhos têm este grau de impacto. Verdade, mas não nos podemos esquecer de que mesmo este trabalho notável e disruptivo foi suportado num conjunto alargado de trabalhos prévios, que, embora tendo menos visibilidade, foram decisivos. Muito do que se faz em investigação é incremental.
Também é voz comum dizer que os cientistas e a investigação são para países ricos, que conseguem depois rentabilizar o investimento feito. E Portugal não faz parte do clube. Sinto, cada dia mais, que esta percepção de alguns está desfasada da realidade, porque o impacto (a rentabilização) pode e deve ser medido de muitas formas. Há por parte da comunidade científica um sentimento profundo de responsabilidade social, ou seja, como é que o conhecimento que se constrói pode ser “útil” já.
Relembro um exemplo recente, quando investigadores do ITQB-NOVA implementaram um novo teste rápido para o rastreio de covid-19, que foi utilizado num estudo nas escolas de Oeiras, em colaboração com o município.
O que vemos hoje? Os cientistas a irem às escolas, e as escolas e as famílias a irem aos cientistas (no Dia Aberto do ITQB-NOVA recebemos mais de 1100 visitantes em sete horas, num sábado). Vemos os cientistas e os institutos onde trabalham cada vez mais próximos das comunidades onde estão inseridos, e a colaboração com empresas, administração pública e associações não-governamentais cada vez mais intensa, embora ainda longe do desejável.
Na realidade não andámos todos ao mesmo ritmo. A investigação em Portugal, e a formação de uma nova geração de cientistas cultos, curiosos, responsáveis e generosos, andou a um ritmo superior ao da nossa economia. Temos uma economia ainda “velha”, no que respeita à forma como olha e se abre à ciência, apesar de alguns exemplos fantásticos de investimento no conhecimento. É por aí que temos de ir.
Pelo meio temos um problema que é também uma urgência. Esta geração de cientistas de que nos orgulhamos vive em grande parte em situação de instabilidade contratual. A solução não é simples e não pode ser demagógica. É necessário encontrar o equilíbrio certo entre assegurar o desenvolvimento profissional dos cientistas e promover a sua inserção onde possam ser criativos e “úteis”. Esta geração não merece menos e o país também não.


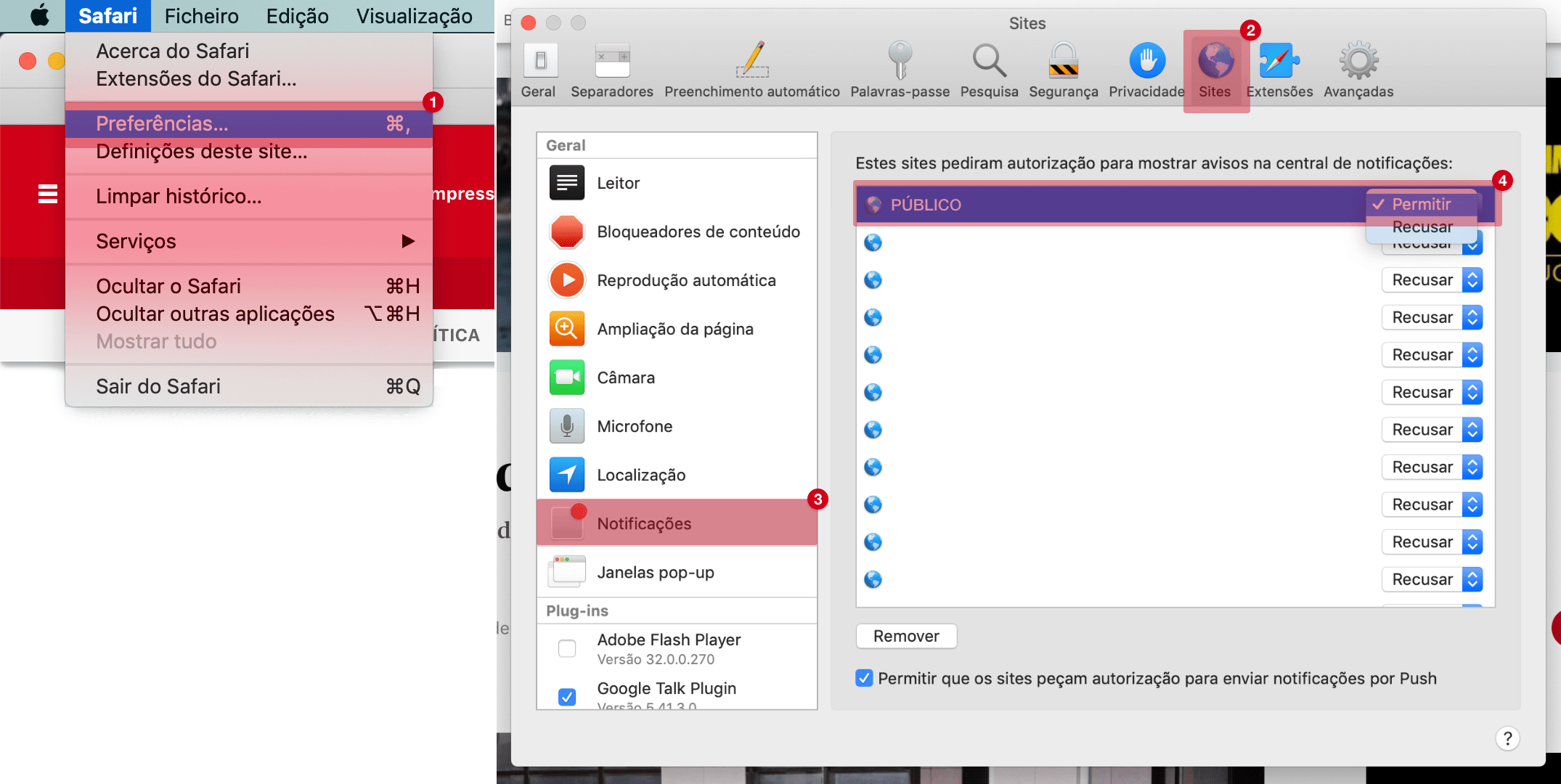
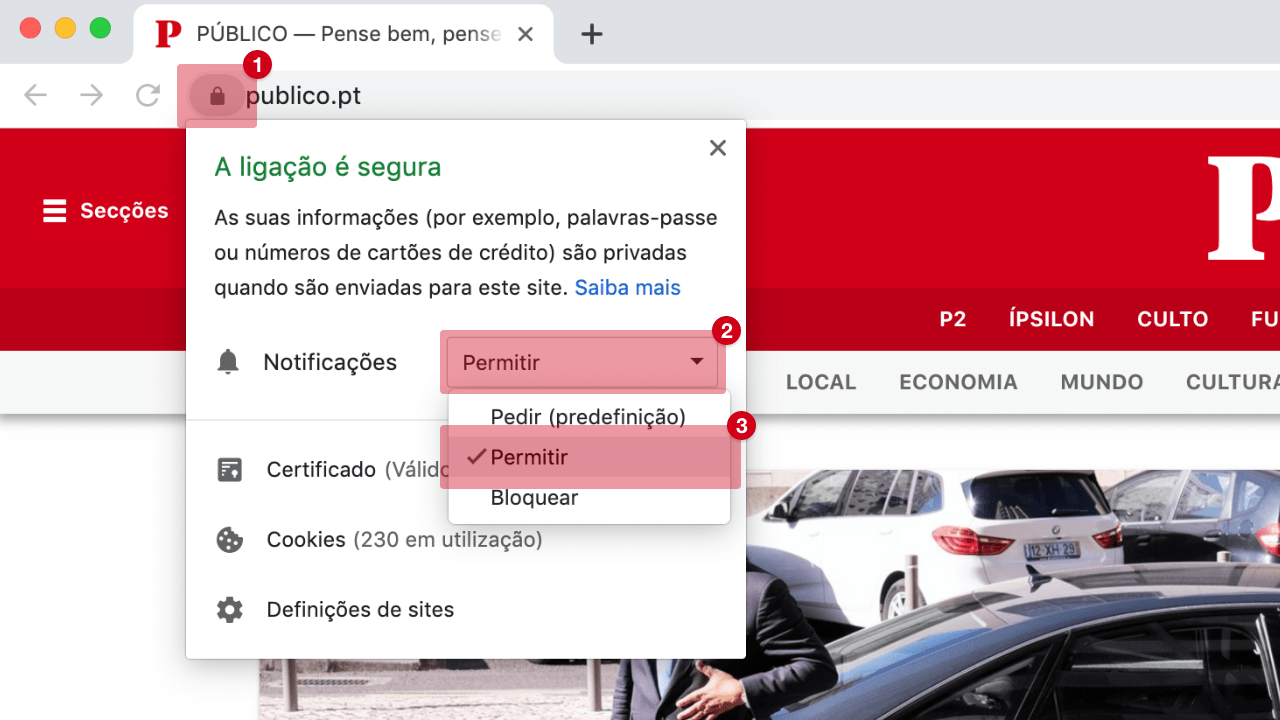
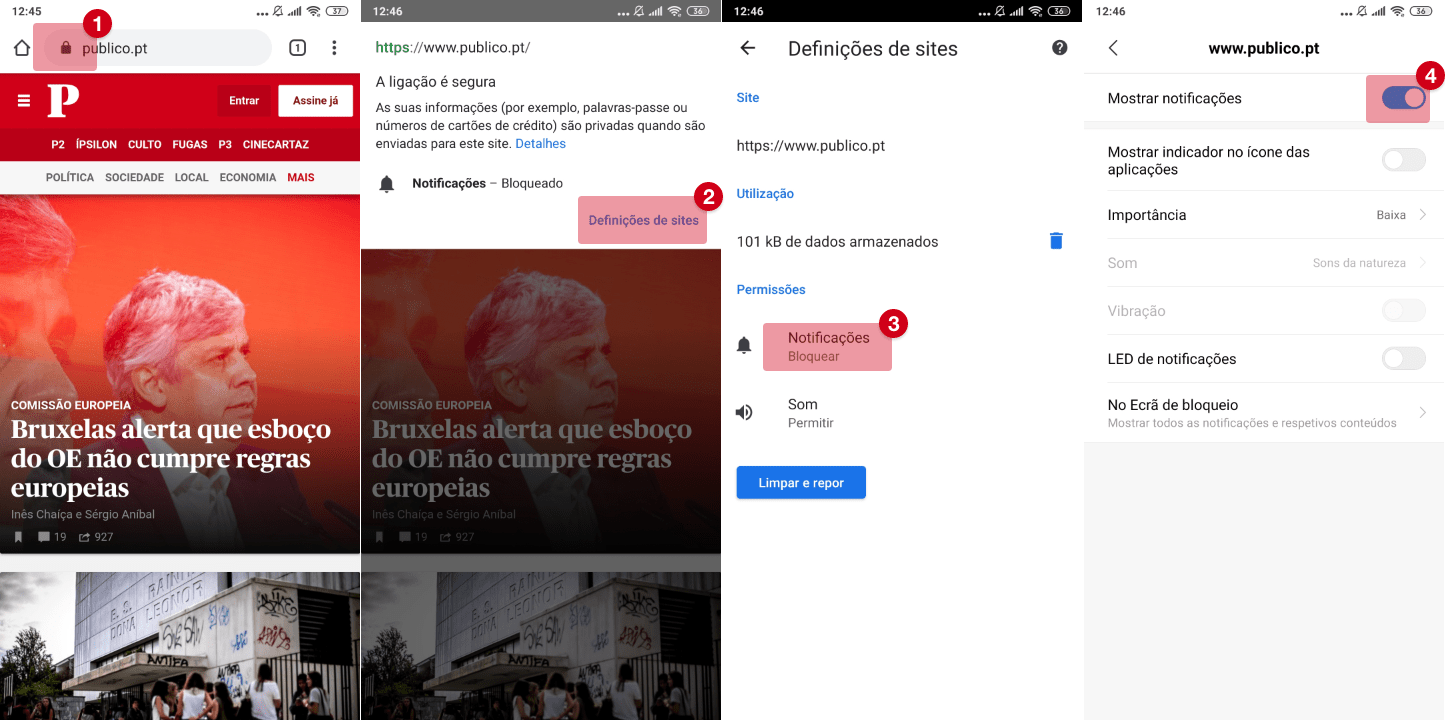
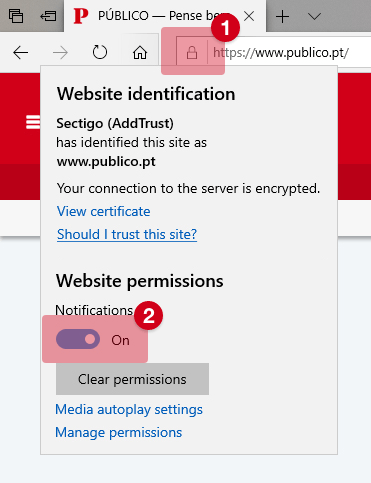
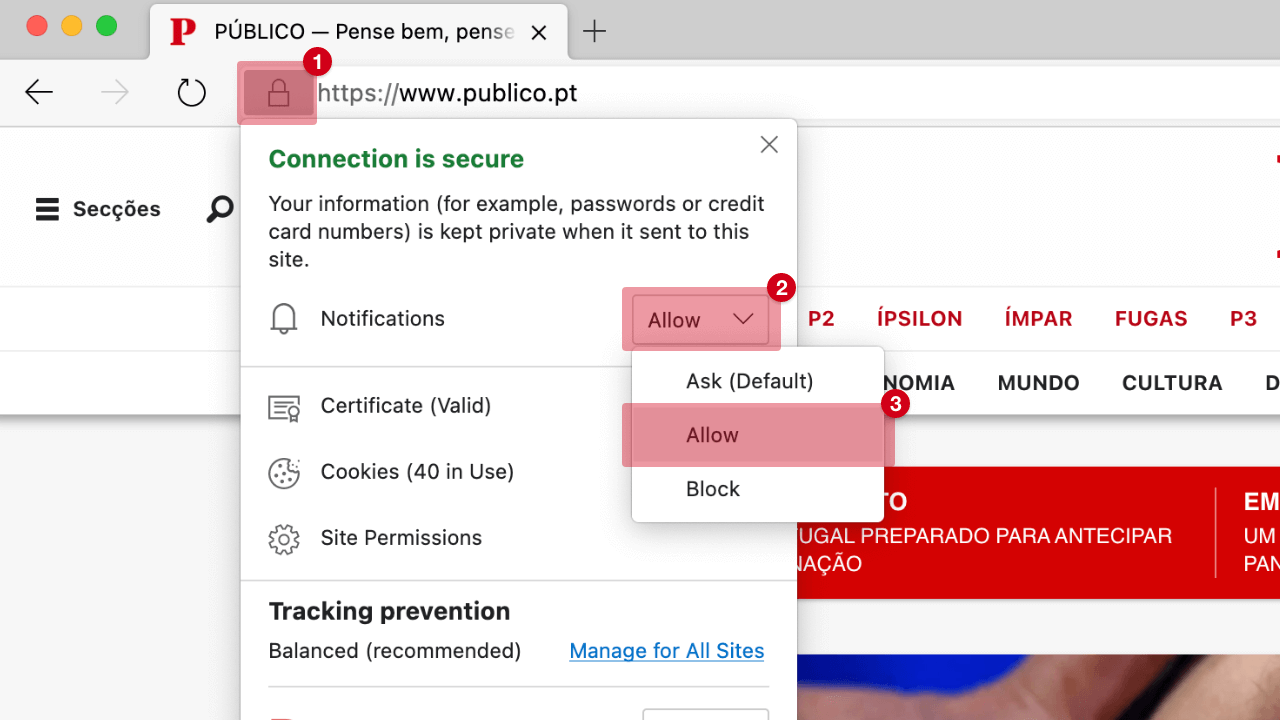
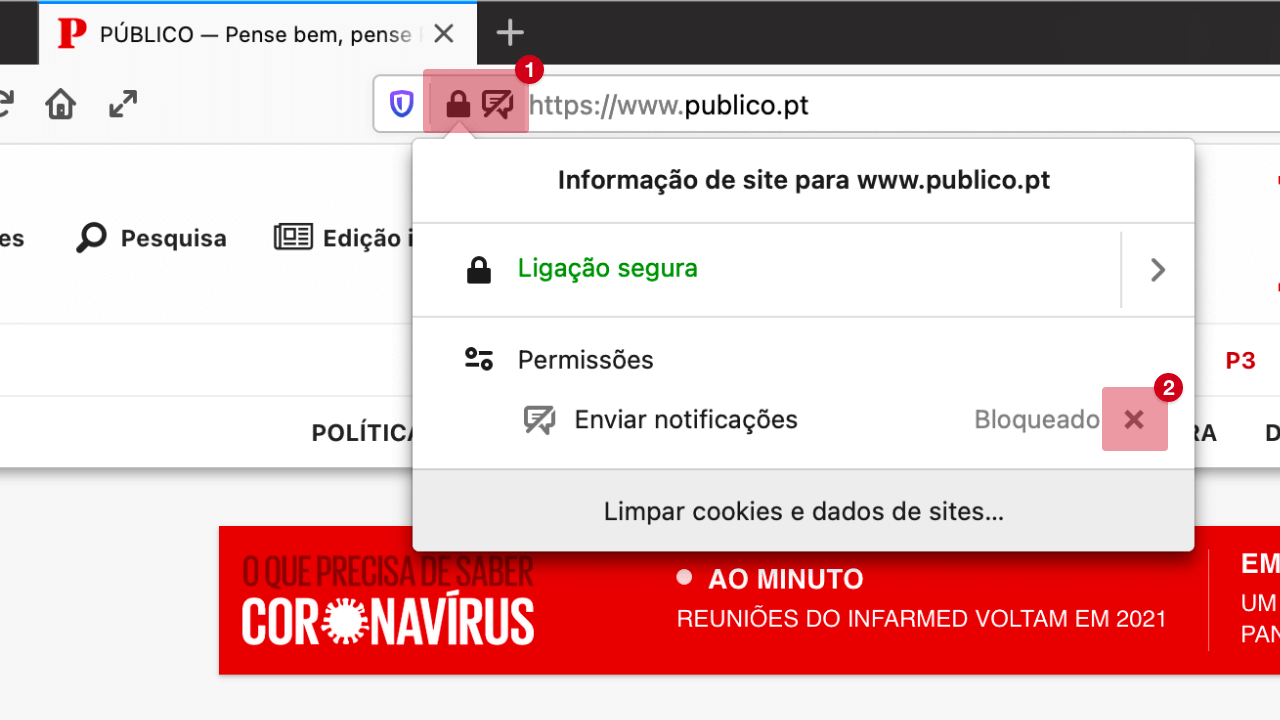
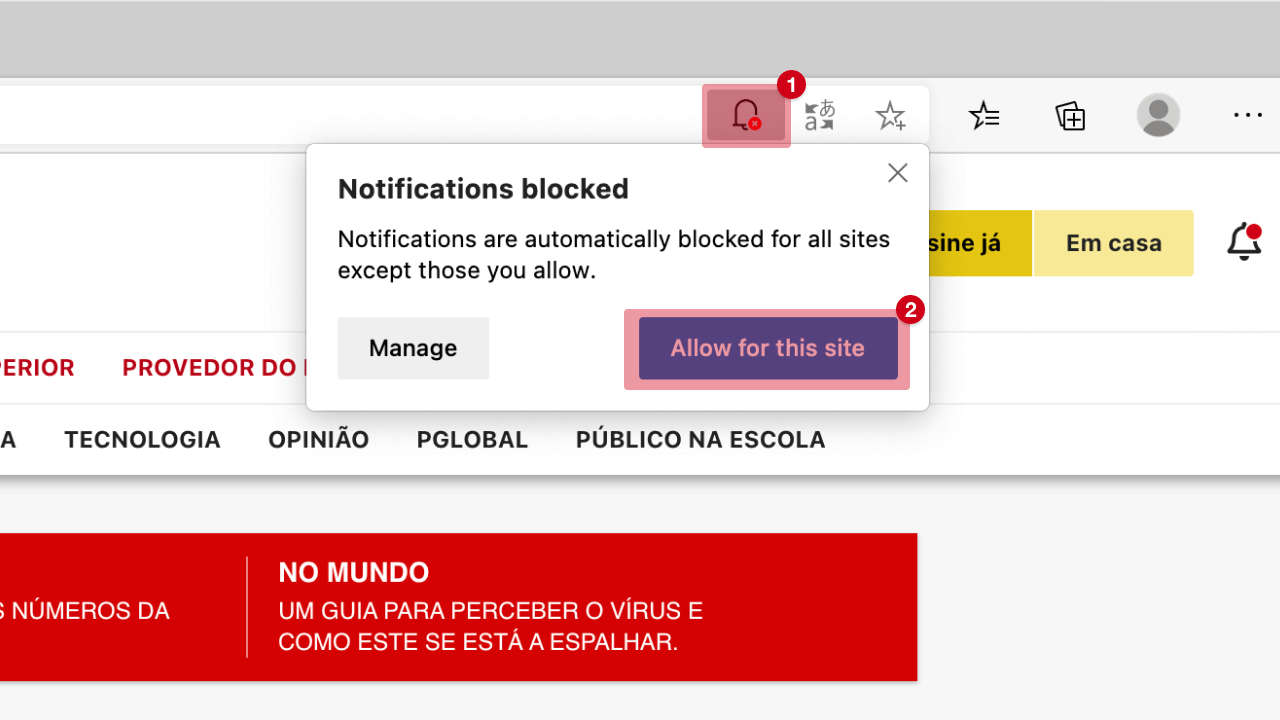
Comentários
Últimas publicações
Tópicos disponíveis
Escolha um dos seguintes tópicos para criar um grupo no Fórum Público.
Tópicos