Cinco séculos de portugueses ciganos
Portugueses ciganos: como se forjou uma cultura de resistência
A história dos portugueses ciganos em cinco andamentos. E algumas diligências para a tirar do esquecimento e a fazer chegar às escolas. Este é o segundo capítulo da série especial Portugueses ciganos – uma história com cinco séculos



I. A chegada ao Reino de Portugal e dos Algarves
Imagine-se D. João III, em Évora (1521), a assistir à estreia da Farsa das Ciganas, pequena peça de Gil Vicente: quatro mulheres tentam ler a sina à plateia e quatro homens vender-lhes cavalos e burros.
“Andemos irmãs e vamos a estas senhoras de grande formosura, veremos a sorte, a buena ventura e elas nos darão as suas recompensas para que comamos”, diz Lucrécia, uma das quatro mulheres. “Bela senhora, nos dê algo precioso para que eu diga a vossa sorte só um pouquinho custa.”
Teriam entrado em Portugal na segunda metade do século XV, “pela fronteira da Estremadura espanhola”, ao que apurou o linguista e etnógrafo Adolfo Coelho (1847-1919). E achado “a província do Alentejo excelentemente adaptada ao seu modo de vida”.
Não se conhecem documentos sobre os primeiros a chegar. Não há notícia de que se tenham apresentado como peregrinos. Diz o historiador Francisco Mangas que Portugal ficava fora dessas rotas e não tinha prática de passar salvo-condutos semelhantes aos que nos restantes reinos ibéricos identificaram os primeiros ciganos.
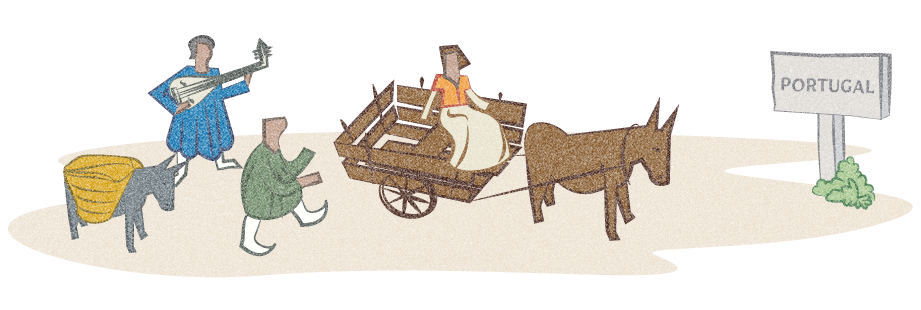
A primeira referência à palavra cigano é o poema As Martas de D. Jerónimo (1510), de Luís da Silveira, que integra o Cancioneiro Geral (1516) de Garcia de Resende — atribui um “engano” a “uma cigana ou muito fina feiticeira”. A segunda é a peça na qual Gil Vicente retrata as ciganas como impostoras e os ciganos como negociantes duvidosos.
Tudo no seu modo de vida chocava com a sociedade portuguesa de então, profundamente católica, hierarquizada, que atribuía a cada categoria social um modo próprio de vestir e forçava ao trabalho agrícola vadios e mendigos. A itinerância, o colorido dos trajes, os adornos, a prática de quiromancia, a língua — caló, variante do romani.
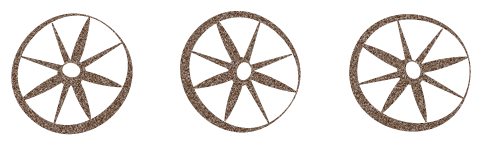
Esquecidos pela história

Bruno Gonçalves no espaço da Associação Ribalta Ambição, na Figueira da Foz. Paulo Pimenta
Pequenino, Bruno Gonçalves (n. 1976) nada sabia sobre a história dos portugueses ciganos. “Não se falava nisso na escola.” Só se lembra de uma leitura sobre uma menina de tranças pretas junto a uma fogueira. “Dava ideia de que todos os ciganos eram nómadas.”
Em casa, no Bairro do Ingote, em Coimbra, também não havia quem lhe contasse de onde tinham vindo os ciganos, há quanto tempo tinham chegado, que história era a sua. Os pais não sabiam. E os avós, se alguma vez souberam, já não lha podiam contar, já tinham partido.
No 8.º ano, deixou a escola. “Era o único cigano da turma.” A escola não lhe parecia lugar para rapazes iguais a si. Esses já estavam a trabalhar. Bruno ia fazer o mesmo. Já ajudava os pais a vender roupa no Mercado D. Pedro V. “Ia ser um cigano como os outros. Ia viver da venda ambulante. Mais um ano ou dois, ia formar uma família. Não acreditava que no outro lado havia espaço para mim.”

Criar pontes é o principal foco do trabalho de Bruno Gonçalves. Paulo Pimenta

Licenciado em Animação Socioeducativa e vice-presidente da Letras Nómadas, Bruno ajuda jovens ciganos “a concretizar os seus sonhos”. Paulo Pimenta
Mas o país começou a investir mais na educação, na formação profissional, no combate à pobreza. Perante o desafio de cursar Electricidade, Bruno e outros rapazes ciganos tornaram à escola. Com uma componente técnica e outra geral, fazia o 3.º ciclo do ensino básico por unidades capitalizáveis.
Não se tornou electricista, mas percebeu que outro mundo era possível. Co-fundou a Associação Cigana de Coimbra (nascida em 1998 e registada em 1999), de que foi primeiro presidente. E desenvolveu o primeiro projecto de mediação na Escola Básica de Ingote.
Ia buscar crianças a casa. Explicava-lhes as regras da escola. Envolvia as famílias. Elucidava os professores sobre costumes ciganos. Nessa missão, pôs-se “à procura de textos mais positivos”. Leu o que lhe veio às mãos. Começou a escrever A História do Ciganinho Chico, um conto infantil protagonizado por um rapaz de 9 anos que, questionado pela professora sobre a origem do seu povo, recorre ao avô.
O livro foi editado em 2011 com apoio da EAPN-Portugal e da Fundação Calouste Gulbenkian. E reeditado em 2021, com ilustrações da artista multidisciplinar cigana Natália Serrana (n. 1995), num projecto da Ribalta Ambição – Associação para a Igualdade de Género nas Comunidades Ciganas, financiado pelo Fundo de Apoio à Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas.
Pelo caminho que foi desbravando, Bruno tornou-se referência. Hoje, licenciado em Animação Socioeducativa, ajuda jovens ciganos “a concretizar os seus sonhos”. É vice-presidente da Letras Nómadas, parceira do Estado no programa de participação comunitária Romed e no programa de promoção da educação OPRE. E não se cansa de ensinar história e cultura ciganas.
O seu novo livro chama-se Conhece-me antes de Me Odiares – Notas sobre História e Cultura Cigana (2023) e também é editado pela Ribalta Ambição, dirigida pela cunhada, Tânia Oliveira, e pela mulher, Marisa Oliveira. “É um título provocador.” É um modo de chamar mais pessoas, desta vez crescidas, para esta história. “É uma história com muita perseguição, mas deixa transparecer muita resistência e muita resiliência.”
Conhecer a história “ajuda a perceber as assimetrias do presente”. “Falar na cultura também é importante para se perceber que há mais em comum do que se pensa, que não somos assim tão diferentes.”
II. Ordens de expulsão do Reino de Portugal e dos Algarves
Logo nas Cortes de 1525, em Torres Novas, ecoaram protestos contra os ciganos. Na linha de outros monarcas da Europa Ocidental, D. João III logo ordenou: “Que não entrem ciganos no reino e saiam os que nele estiverem.” (1526)
Voltou a ouvir-se o mesmo clamor nas Cortes de 1535, em Évora. O rei reforçou a disposição: “Mando que daqui em diante nenhum cigano, tanto homem como mulher, entre em meus reinos e senhorios; e que, entrando, sejam presos e publicamente açoutados com baraço e pregão.” (1538) Os naturais do reino que se atrevessem a levar vida semelhante seriam degredados — “dois anos para cada um dos lugares de África”.
Carlos Jorge Sousa, filho de pai cigano e mãe não-cigana que fez uma investigação sociológica a partir dos ascendentes, chama a atenção para o contexto. Em Dezembro de 1496, D. Manuel I dera ordem de expulsão aos judeus e aos muçulmanos. Quem não se convertesse teria de sair no prazo de dez meses ou enfrentaria a morte e todos os seus bens seriam confiscados.

No caso dos ciganos, não foi dito e feito. No ano da morte de D. João III (1557), a mulher, Dona Catarina, tornou a mandar expulsá-los, votando os que se atrevessem a permanecer no reino ao trabalho forçado nas galés — com outras pessoas condenadas e escravizadas. D. Sebastião (1573) anulou as licenças de permanência obtidas por alguns e deu a todos 30 dias para sair, sob pena de açoitar as mulheres e enviar para as galés os homens. O cardeal-rei D. Henrique concedeu novas licenças (1579), mas delas excluiu os nómadas.
Durante o domínio espanhol, tudo se agravou. Filipe I estabeleceu um prazo de quatro meses, findos os quais deviam ser executados “os que não se avizinhassem nos lugares”, insistissem em “andar vagabundos”, em “viver em ranchos ou quadrilhas” (1592). Filipe II renovou sucessivamente a proibição de entrada (1603, 1606, 1608, 1613, 1614). Excluiu a pena de morte, mas manteve a condenação às galés (1613, 1614).
A sequência de leis levanta dúvidas sobre a sua aplicação. “Quem sabe se tidas por exageradas as medidas penalizadoras caíam no esquecimento, apesar dos castigos a que ficavam sujeitos os prevaricadores”, questiona a historiadora Elisa Maria Lopes da Costa.
Mangas chama a atenção para a “muita dificuldade” que havia em aplicar decisões. “A coroa não tinha recursos. Não chegava a todo o reino.” Não quer isso dizer que não tenha havido impacto na vida dos visados. Mesmo que não fossem expulsos, viviam sob essa permanente ameaça, o que obrigaria a disfarçar, a esconder. “Muitos escrevem ao rei a pedir para continuarem em Portugal.”
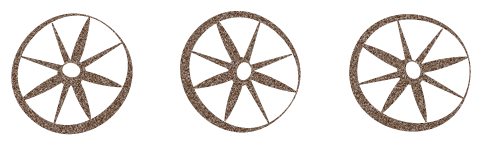
Levar esta história para as escolas
Tais acontecimentos continuam ausentes dos manuais escolares. Analisando os programas de História e Geografia do 5.º ao 12.º, Mangas só encontrou uma referência: uma recomendação de leitura no contexto do Holocausto.
Parece-lhe “urgente” mudar os programas escolares. Para se perceber o contributo e a presença do povo cigano no conjunto da historiografia portuguesa. E para se “reduzir as incompreensões, as tensões”.

Francisco Mangas está a fazer um doutoramento sobre a história dos ciganos em Portugal, durante a Época Moderna. Paulo Pimenta
No âmbito da autonomia e flexibilidade curricular, qualquer escola pode introduzir este tema. No Alto Comissariado para as Migrações há o Núcleo de Apoio das Comunidades Ciganas com uma equipa pronta para dar formação sobre história e cultura cigana a funcionários públicos.
Há a História do Ciganinho Chico. E o Kit Pedagógico – Romano Atmo (2016), produzido pela Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portuguesas. E o livro Reflexo – Ferramenta Pedagógica para Uma Nova Relação entre a Escola e as Comunidades Ciganas (2019), projecto da CooLabora, que envolveu professores do Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto e membros da comunidade cigana de Tortosendo, na Covilhã. E o RISE – Roma Inclusive School Experiences, a experiência portuguesa (2020), de uma equipa da Universidade do Minho.






Ilustrações de Natália Serrana para o livro A História do Ciganinho Chico.
“Não basta que se fale nos ‘dias de’, como as escolas fazem”, enfatiza a socióloga Maria José Casa-Nova. “Ter o dia da cultura cigana não tem efeito ao nível do que é aprendido em sala de aula. É necessário desenvolver dispositivos a partir de conteúdos curriculares específicos.”
Neste momento, está a coordenar a equipa portuguesa do projecto TRACER – Transformative Roma Art and Culture for European Remembrance. No próximo ano, há-de sair dali uma “proposta de integração no currículo de História de conteúdos relativos ao Holocausto e outras dimensões da história do povo cigano”, a ser elaborada por um conjunto de estudantes ciganos e não ciganos que dele fazem parte, sob supervisão de investigadoras da Universidade do Minho e de Bruno Gonçalves.
III. Contradições da Guerra da Restauração da Independência
Poucos estudiosos se debruçam sobre a história dos portugueses ciganos. E esses, como escreveu a socióloga Alexandra Castro, “tendem a enfatizar a sucessão de fenómenos que tornaram os ciganos ‘vítimas da história em vez de seus construtores’, o que poderá estar na origem do perpetuar da imagem mais sombria desta população, esquecendo-se os processos que conduziram a uma hospitalidade territorial e a formas de coexistência mais positivas ou mesmo a alguns feitos importantes”. Exemplo disso é a participação de alguns na Guerra da Restauração (1640-1668).
Recorda Mangas que, logo em 1641, “o conselho de guerra determinou a prisão de todos os ciganos que se encontrassem nos batalhões militares, ‘para se meterem nas galés’ com os ‘mouros’ escravizados”. Há prova de que nem assim desistiram de participar.
A historiadora brasileira Natally Chris da Rocha Menini conta que em 1643 o Conselho de Guerra examinou uma petição enviada por um cigano chamado Fernando de Almeida. “Pedia ao rei a autorização para levantar em Portugal uma companhia de 50 soldados ciganos e, em troca, solicitava a patente de capitão.” O bailio votou contra, alegando que fariam “danos e roubos”.
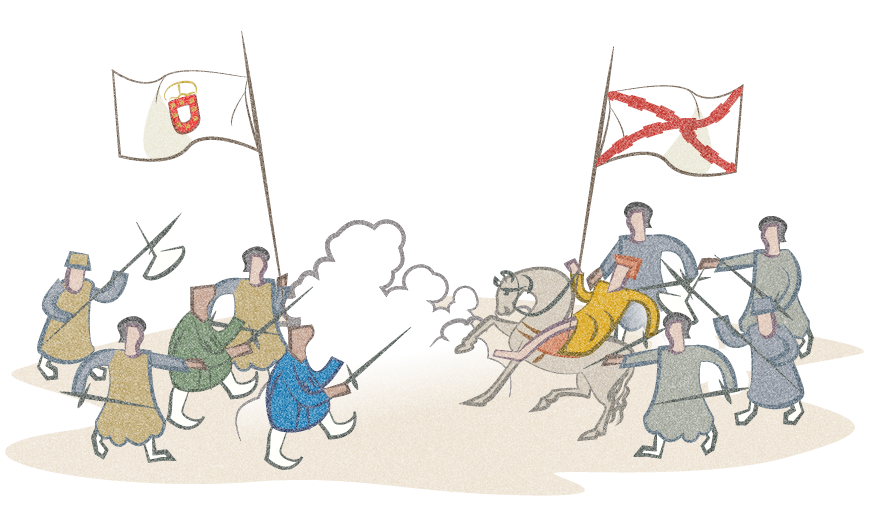
Mesmo assim, havia ciganos na frente de batalha. Adolfo Coelho cita uma carta do procurador da coroa Tomé Pinheiro da Veiga, sobre um cigano chamado Jerónimo da Costa, que tombou na batalha do Montijo (1644), e foi no ano passado mencionado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
Jerónimo da Costa lutou “‘três anos contínuos com suas armas e cavalos à sua custa, sem soldo’”. O rei concedeu à esposa e aos filhos estatuto de naturais do reino, ficando o filho homem destinado a ser oficial mecânico.
Lendo uma petição remetida pela mulher para fazer do genro natural do reino, em 1646, Pinheiro da Veiga intercedeu. “Porque não há-de V. Majestade pagar os soldos devidos a mulher e filhos? E mande V. Majestade passar-lhe alvará de natural e cavaleiro fidalgo, e que nunca tenha nem seus descendentes ofício mecânico. Servirão sempre na guerra e milícia nos postos de soldados e presídios.”
Dir-se-á que a notícia sobre a dedicação de Jerónimo da Costa não alterou a posição de D. João IV. Mandou fixar a residência de dez presos, suas mulheres e filhos, supostamente as últimas famílias ciganas presentes no reino, mas proibiu-as de falar a sua língua e de a ensinar aos filhos, de usar os seus trajes e de ler a sina (1647). Desobedecendo, eles seriam condenados às galés e elas ao degredo em Cabo Verde e Angola sem levar consigo filhos ou filhas.

«A Egiptiana», in Recueil de la di ersité des habits, François Desprez, 1567
Na verdade, o rei Restaurador apertou o cerco aos ciganos. Procurando quebrar laços de solidariedade, previu pena de três anos de degredo para Castro Marim para quem lhes desse ou arrendasse casa (1648). “Querendo eu desterrar de todo o modo de vida e memória desta gente vadia sem assento, nem foro, nem paróquia, nem vivenda própria, nem ofício mais que latrocínios de que vivem, mandei que em todo o reino fossem presos e trazidos a esta cidade, onde seriam embarcados e levados para servirem nas conquistas, divididos”, ditou (1649). Só se livravam de tal destino “250 [soldados ciganos] que serviam nas fronteiras, procedendo na forma de traje e lugar dos naturais”.
Ao que apurou a historiadora Elisa Maria Lopes da Costa, ainda convocou os governadores de armas para, no dia 8 de Setembro de 1652, prenderem todos os ciganos que encontrassem. Voltou a fazê-lo para o dia 12 de Setembro de 1654. Nuns sítios, como Elvas, ninguém se prendeu. Noutros, como Salvaterra de Magos, sim. E esses terão sido desterrados.
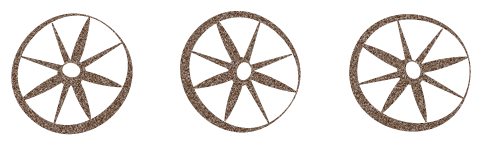
Uma experiência exemplar
Soraia Caldeira (n. 2013) frequenta o 3.º de escolaridade e no Dia Mundial do Teatro, 27 de Março, teve oportunidade de vestir a pele de uma personagem d’ A História do Ciganinho Chico. Foi a sua estreia nas artes de palco.
- Porque é que achas que é importante saber esta história?
- É interessante. E, vá, é divertido também saber sobre as coisas.
- Pode mudar a forma como estes meninos vêem os ciganos?
- Pode.
- Como?
- Há muita gente que diz só por ser cigano: ‘Já não quero mais ser amigo.’ Fazem bullying. Acham que são maus. E acho que aqui, como tivemos esta história, mudaram mais a opinião.
- Em que sentido?
- Muita gente no mundo acha que os ciganos são maus, mas não. Uns fazem-se maus, outros podem ser bons.
O Fundo de Apoio à Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas tem permitido desenvolver pequenos projectos sobre história cigana. Um deles é o Teatro Nómada, que põe em cena uma adaptação amadora do Ciganinho Chico.
No Dia Mundial do Teatro, essa iniciativa da associação intercultural Sílaba Dinâmica, sediada em Elvas, deslocou-se a Portalegre ao encontro do Lungo Drom, projecto da associação cultural Umcolectivo, financiado pela Calouste Gulbenkian e pela La Caixa, que ambiciona criar o Museu Nómada para circular pelo Alentejo.
Rapazes e raparigas de três turmas de três escolas do Agrupamento José Régio (Assentos, Alegrete e José Régio) acorreram ao Teatro do Convento. As de etnia cigana que as incorporam não apareceram. Algumas não ciganas dispuseram-se a assumir papéis curtíssimos e a brincar ao teatro naquela manhã.
Quando o projecto começou, em Novembro de 2022, a transversalidade da ignorância surpreendeu Cátia Terrinca, responsável pela coordenação artística. Agora sabem que os povos ciganos têm uma história, um hino, uma bandeira. “Mas, tal como um aluno brasileiro [não cigano] não conhecia a bandeira e a achou muito bonita, um aluno [português] cigano disse que via aquele símbolo nas músicas que a mãe punha lá em casa, que o achava muito bonito, mas não sabia o que era.”
Em sala de aula, o responsável pela intervenção social, Rui Salabarda, procura conduzir cada turma de uma perspectiva multicultural para uma intercultural, pôr crianças ciganas e não ciganas a reflectir sobre histórias e tradições, potenciar o diálogo, o conhecimento. Está convencido de que esta é a idade certa para começar. “Tem sido um prazer. A capacidade que elas já têm de perceber, de ver a diversidade cultural como fonte de conhecimento!”
IV. Assimilação cultural ou deportações para as “conquistas”?
Portugal iniciara logo no século XV uma política de degredo de condenados. Era um “três em um”: libertava-se de indesejados, aliviava as cadeias insalubres e povoava as “conquistas”. Até ao século XIX, era o único poder imperial a abarcar ciganos nesse movimento forçado.
Observou-se uma alteração significativa nestas políticas no século XVII. Numa provisão destinada ao corregedor de Elvas, D. Pedro II começou a distinguir os de fora dos “naturais, filhos e netos de portugueses”.
Aquele monarca mandou exterminar os primeiros, “vindos de Castela”. E obrigar os segundos a tomar domicílio certo e a vestir-se “como costume do reino”, sob ameaça de deportação para o Brasil (1686). Chegou a decretar morte aos que continuassem a vagabundear e a usar os seus trajes típicos (1694).
D. João V insistiu nessa política de assimilação cultural forçada, renovando a proibição da itinerância, do traje, da língua, dos negócios de bestas e de “imposturas” como ler a sina. Se teimassem em fazer vida de ciganos, açoites e trabalho forçado nas galés para os homens e degredo no Brasil para as mulheres (1708). D. João V manteve a linha. Reforçou a ordem de prisão e degredo, prevendo que fossem repartidos por Índia, Angola, São Tomé e Príncipe, Angola e Cabo Verde (1718). E justificou-a com o “descuido” na execução (1745). Após o sismo que destruiu parte de Lisboa, D. José I decretou que trabalhassem na reconstrução da cidade até haver navios que os transportassem para Angola (1756).
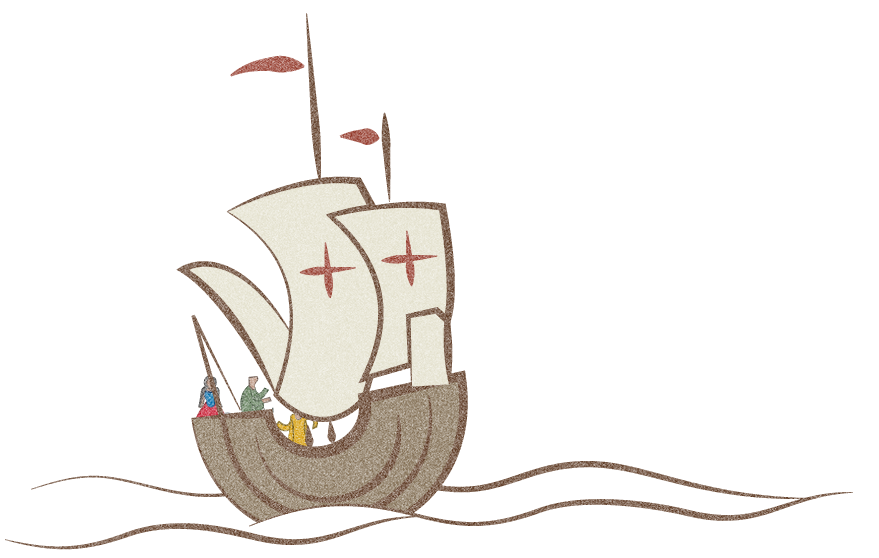
A reacção não era igual em todo o lado. No Brasil sobravam queixas, abrindo-se a possibilidade de alguns serem novamente desterrados. Em Angola, o governador, Álvares da Cunha, pedia ao reino que lhe enviassem mais, uma vez que resistiam melhor ao clima.
Lopes da Costa reuniu provas de que muitos dos que iam para o Brasil acabaram em Angola. Olhando para o Registo das Cartas de Guia de Degredados chegados a Angola entre 1715 e 1756, que reproduziu, vê-se muitos ciganos condenados a degredo perpétuo pelo “simples crime” de serem ciganos. Essas penas são tanto mais reveladoras quanto outros eram condenados a dez anos por homicídio.
A Inquisição manifestava pouco interesse nestas pessoas, que viviam à margem. Adolfo Coelho cita um único caso: Garcia de Mira, em 1582, processada por ter feito “aparecer a figura de um defunto num papel posto em água”. Lopes da Costa acrescenta outros, envolvendo degredados para o Brasil. Na primeira visita do Santo Ofício, em 1591, por exemplo, Maria Fernandes confessou que havia “blasfemado, por duas vezes, contra Deus perante as dificuldades que tinha tido para atravessar uma ribeira”. Na mesma ocasião, Apolónia de Bustamante contou que vivera amancebada, sete anos com um homem, altura em que, por ele “lhe ter dado má vida, ela, com ira e agastamento, arreganhava a Deus”. Nesse “tempo de agastamento, entregava-se aos diabos, dizendo: ‘Dou-me aos diabos, os diabos me levem já.’”
Mangas está a alargar a base documental, mas já percebeu que há “muito poucos processos”. “Os que encontrámos dizem respeito, sobretudo, a mulheres, por causa da prática da leitura da sina. Os inquisidores tratam aquilo como um engano, não como uma heresia. As penas são pequenas repressões.”
O que lhe parece “muito evidente” nos documentos que tem analisado, é que há todo um “outro mundo, de vivências, de quotidianos”, que tem escapado à historiografia. “São mais integradas algumas destas famílias do que poderíamos pensar, se só víssemos a história dos ciganos pelas leis que contra eles foram escritas.”
No seu entender, “falta um olhar local”. Esses arquivos podem desocultar dinâmicas de solidariedade, mas também de anticiganismo popular. Ao fazer o seu estudo, tem-se deparado com indícios de tensões locais. Ocorre-lhe um documento do século XVII de uma aldeia da periferia de Bragança. Havendo ciganos a aproximar-se, tocavam os sinos, unindo-se para os expulsar.
Seria importante perceber o que pensavam os ciganos, mas não deixaram registo. Para já, não se lhe conhece momento algum de revolta organizada.
Sousa fala em “resistência”, “passividade”, “resignação”. “Não manifestaram uma consciência colectiva e unificadora que permitisse enfrentar a realidade dos diferentes processos históricos”, escreveu. “Encerraram-se neles próprios, na sua estrutura de grupos de parentes, mais ou menos dispersos, articulada com a autoridade dos homens maduros e mais velhos.”
O sociólogo Manuel Carlos Silva, por sua vez, fala em “estratégia de resistência notável”. “Quando não têm recursos ou têm poucos recursos, tudo o que os dominados podem fazer é resistir passivamente. Adaptar-se, acomodar-se, para manter-se em vida, para não morrer.”
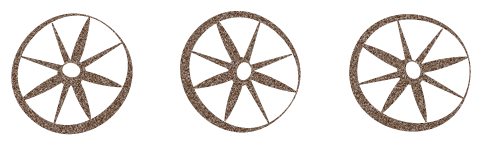
Notas sobre uma revolta que vem de trás

Luís Romão durante os ensaios da peça A História do Ciganinho Chico, em Portalegre. Paulo Pimenta
Luís Romão (n. 1982) protagoniza o avô na tal adaptação d’A História do Ciganinho Chico, mas não é um homem do teatro. É mediador e formador. E, como Bruno Gonçalves, tem andado de norte a sul a ensinar História e Cultura Ciganas.
“Nós tentamos fazer ver porque é que a comunidade cigana é ainda tão fechada”, conta. “Porque são séculos e séculos de perseguições, séculos e séculos de sofrimento. Não é por acaso que vivemos isolados do resto do povo. Estamos a falar em 500 anos de resistência.”
Muitas vezes dizem-lhe: “Eh, pá, vocês estão há tantos anos em Portugal e ainda não se conseguiram incluir!” “Integrar”, corrige o irmão, Bernardino, que interpreta o Ciganinho Chico. “Integrar. Nós é que dizemos incluir. Digo-lhes: ‘Há pessoas com uma mente mais aberta. É o meu caso. Entro no povo, saio do povo, estou lá. Mas há pessoas com mente mais fechada.’”

Luís com o irmão Bernardino, que interpreta o Ciganinho Chico. Paulo Pimenta

“Acredito que 90% da comunidade cigana não saiba a história do seu povo”, diz Luís Romão. Paulo Pimenta
Mais do que aceitar, parece-lhe importante entender. “A revolta não é de agora. A revolta vem dos antepassados, passa de geração em geração. O pai não chega ao pé do filho e diz: ‘Tens de ser revoltado, porque nos fizeram isto ou aquilo.’ Não! O pai não conhece a história.”
Acolhe os teóricos que falam num trauma que se transmite de geração em geração, apesar dos descendentes já não terem a mesma experiência. O trauma intergeracional não persiste como uma memória, mas como uma reacção. Há uma desconfiança, uma atitude defensiva face ao exterior, que tende a ser entendido como ameaçador.

Como dirigentes associativos, Luís e Bernardino tentam aproximar mundos. Paulo Pimenta
Não acredita que haja muitas pessoas iguais ao avô do Ciganinho Chico. “Acredito que 90% da comunidade cigana não saiba a história do seu povo. Não sabe a origem, não sabe a travessia, não sabe as leis repressivas, não sabe porque deixámos de falar a nossa língua.” Nem quer pensar no que seria se soubessem. “Até tenho muito medo que os ciganos saibam realmente o que aconteceu, porque a revolta ainda se tornaria maior.”
V. Especial vigilância na República Portuguesa
Com a Revolução Liberal (1820), a Constituição (1822) a Carta Constitucional (1826) abriu-se um novo capítulo: Portugal reconheceu a todos os nascidos no seu território o direito de serem portugueses.
Foi um ponto de viragem na história dos portugueses ciganos. Até então, sublinha Mangas, “não eram considerados portugueses, mesmo que tivessem nascido no Porto, em Lisboa ou em Faro”.
Não era uma cidadania plena. Basta ver uma portaria da polícia de 1848, que previa exigência de passaporte aos ciganos que transitassem pelo reino. E o regulamento para o serviço rural da GNR aprovado em 1920, que mandava sobre eles exercer “severa vigilância”.

Era como se fossem todos iguais. Mesmo na obra fundacional de Adolfo Coelho, de 1892, essa ideia transparece. Como diz Sousa, ao longo da história tem havido uma tendência para tomar todos os ciganos por nómadas, pobres.
Não tinha um avô que lhe contasse a História dos portugueses ciganos, mas tinha uma tia-avó que contava histórias de família. Chamava-se Esperança e guardava num velho baú uma espécie de tesouro: “Fotografias, um estojo de primeiros socorros, jornais e outras coisas mais.”
Mergulhou nesse passado. Recuou até 1827, ano do nascimento do trisavô Manuel António Botas, e foi avançando até 1957, ano da morte de António Maia, seu tio-avô. Consultou documentos, entrevistou pessoas, leu, cruzou informação e, na sua tese sociológica, mostrou que “não é verdade que os ciganos eram todos marginalizados, pobres”. Havia na Lisboa do final do século XIX ciganos que viviam em casas, eram baptizados e casados pela Igreja Católica. Sendo inegável que “a maior parte é marginalizada ainda hoje – no acesso à habitação, ao trabalho, à educação” –, parece-lhe importante compreender que naquela época já havia pluralidade. “Eram excepções, mas existiam.”
.jpg?v1)
Esperança com Manuel Maia e outros familiares
Manuel António Botas era um dos mais bem pagos bandarilheiros do seu tempo. Quando se retirou das touradas, passou a dirigir corridas, primeiro em Santana, depois no Campo Pequeno. “Aparecia com as suas suíças compridas e bem tratadas, chapéu alto e bengala”, conforme citação do Dicionário das Alcunhas Alfacinhas. Também tocava guitarra e cantava fado; foi amigo de Severa, uma lenda da canção nacional. Raphael Bordalo Pinheiro desenhou-o entre outras figuras.
António Maia foi alquilador da Casa Real e participou na Primeira Guerra Mundial, em 1917, incorporado na companhia de saúde. Morreu na sequência da inalação de gases durante os combates em França. “Levou a bandeira portuguesa [no caixão] e foi acompanhado por um corpo do Exército.” A sua morte foi notícia nos jornais.

Publicação de 1873 onde se vê António Botas vestido de toureiro
Era um homem generoso e muito apreciado por ciganos e não-ciganos. “Era um tio entre os tios”, um “homem de respeito”, muitas vezes chamado para mediar conflitos. Até o Hospital de São José recorria à sua mediação.
Não chegou à história do pai, Manuel Maia, que agora lhe parece tão interessante. Era fadista. Derrubada a ditadura, filiou-se no Partido Comunista Português e integrou a célula do fado de Abril. “Quer o meu pai, quer os meus tios participaram, a seguir ao 25 de Abril de 1974, nas grandes lutas que se travaram.”
O Conselho da Revolução declarou, em 1980, a inconstitucionalidade do já referido regulamento da GNR. A “severa vigilância” sobre os ciganos constituía uma discriminação negativa, estabelecida em função da etnia. A GNR alterou-o em 1985, mas reservou “especial vigilância” aos nómadas.
Na síntese da investigadora Mirna Montenegro Val-do-Rio Paiva, os ciganos passaram da “invisibilidade social” à “marginalidade incómoda ao sistema”. À sedentarização em massa seguiu-se a concentração nos bairros sociais, o declínio do trabalho sazonal e independente, o recurso a prestações sociais, a escolaridade obrigatória, a dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, a penetração do culto evangélico, o surgimento do associativismo cigano. A sociedade maioritária foi obrigada a interagir.
Houve choques violentos. Em 1993, a Câmara de Ponte Lima decidiu expulsar uma comunidade, sob suspeita de tráfico de droga. A Procuradoria-Geral da República teve de intervir. Em 1996, formou-se uma milícia popular para expulsar uma comunidade acampada em Oleiros, em Vila Verde, conotada com o tráfico de droga. Viu-se forçada a sair e a vender o terreno. Só com ajuda do Governador Civil de Braga, Pedro Bacelar de Vasconcelos, conseguiu assentar noutro concelho.
Ainda agora a perseguição não acabou, diz Casa-Nova. “Agora, a perseguição é a manutenção dos estereótipos e o que a verbalização desses estereótipos faz. São formas diferentes das usadas no tempo da monarquia, mas fazem com que as pessoas muitas vezes se sintam acossadas e têm um efeito prático nas suas condições de vida.”
Manuel Carlos Silva faz o apanhado das generalizações abusivas que nestes cinco séculos foram sendo usadas para justificar as exclusões e as perseguições que levaram a população cigana a forjar uma cultura de resistência: “ladrões”, “intrujões”, “desordeiros”, “preguiçosos” e, nas últimas décadas, “traficantes de droga”, “subsidiodependentes”. Tudo a pesar na hora de frequentar escola, arrendar casa, arranjar emprego, lidar com instituições. E os activistas têm alertado que está pior, com a ascensão da extrema-direita e a sua entrada no Parlamento (2019).
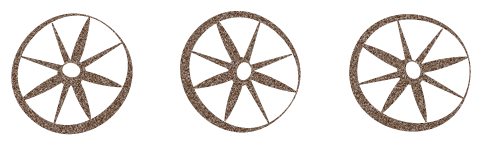
Narrativas próprias

A activista e actriz Maria Gil durante ensaios no Porto. Paulo Pimenta
Olhando para trás, para o princípio, para a peça de Gil Vicente, a actriz e activista cigana Maria Gil (n. 1972) realça “proximidade com o que se apresenta hoje”. O povo cigano ainda é encarado “como o outro, como o que vem”. “Não estamos aqui. Somos daqui. Somos daqui há 500 anos! É este o nosso lugar!”
Embora a identidade étnica permaneça, a história dos povos ciganos revela adaptação aos países onde assentaram. Os portugueses ciganos expressam-se em português. A maior parte não se distingue pelos trajes. Uns poucos são sujeitos ao modo de vida nómada. Subsiste, todavia, uma divisão entre “nós” e “eles”. “As próprias pessoas ciganas acabam por assumir uma ideia de padronização.”
Equilibrando-se na fronteira, criou uma família mista que detona todos os estereótipos. Ela e um dos seus filhos, Salvador Gil, integram agora o elenco da série policial Braga, criada por Tino Navarro, em exibição na RTP. Outro filho, Vicente Gil, é protagonista da nova época da série juvenil Morangos com Açúcar, na TVI. E isto é fazer história.
Quando se lhe pergunta como tudo começou, fala da influência do curinga Hugo Cruz, d’A Pele, das artes participativas, do teatro fórum, do teatro comunitário. Destaca o processo colaborativo que conduziu à curta-metragem Cães Que Ladram aos Pássaros, de Leonor Teles, uma cineasta que é filha de pai cigano e mãe não-cigana e que tem usado a sétima arte como arma contra o preconceito.

Maria Gil sente que os portugueses ciganos estão no princípio de um tempo novo. Paulo Pimenta

A actriz no camarim a preparar-se para uma sessão de ensaios. Paulo Pimenta
Maria Gil diz que os filhos gémeos (n. 2001) “estão onde devem estar”. Começaram pequenos, com ela, a fazer teatro comunitário. Estudaram na Academia Contemporânea do Espectáculo. Agora, um está na Escola Superior de Teatro e Cinema e outro na Escola Superior e Artística do Porto. Têm feito cinema e televisão.
Mudaria um figurino de um par de falas, mas está contente com a série Braga. Agrada-lhe pensar no que a sua participação pode significar para outras mulheres ciganas. “Estarão a ver uma mulher cigana a interpretar uma mulher cigana.” Isso provar-lhes-á que aquele espaço não está interdito, que com trabalho é possível chegar lá. E ajudará a introduzir pluralidade na imagem da população portuguesa cigana.
Está no princípio de um tempo novo. Ainda este ano, vai começar um projecto com o Bestiário. Partilhará a direcção com Teresa V. Vaz. Orientarão oficinas em comunidades ciganas e daí nascerá um espectáculo, que há-de estrear-se no Teatro D. Maria II em 2024. Acredita que envolver pessoas ciganas nas narrativas sobre pessoas ciganas faz toda a diferença. “Não acordo de manhã, ponho uma capa e digo: Vamos salvar o mundo! Mas porque não salvá-lo?”
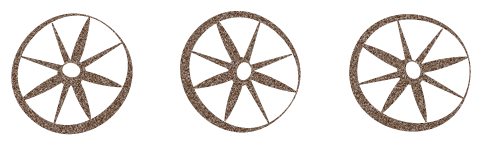
Portugueses ciganos – uma história com cinco séculos
Nesta série especial multimédia de cinco capítulos, começámos por procurar vestígios da longa viagem feita por estes povos, desde a Índia até Portugal. Revisitámos a sucessão de leis repressivas de que os ciganos foram alvo em território nacional e damos conta de um esforço novo para resgatar esse e outros aspectos da sua história. Procurámos perceber o que mudou desde o 25 de Abril de 1974. Ouvimos contar o quanto custa sair da margem, ultrapassar a ciganofobia e conquistar um emprego. E verificámos que ainda há quem seja forçado a levar uma vida nómada.
Referências bibliográficas
CASTRO, Alexandra, Na luta pelos bons lugares – ciganos, visibilidade social e controvérsias espaciais, Alto Comissariado para as Migrações, 2013.
COELHO, F. Adolfo, Os ciganos de Portugal: com um estudo sobre o calão, Imp. Nacional, 1892.
COSTA, Elisa Maria Lopes, “O povo cigano entre Portugal e terras de além-mar”, Grupo de Trabalho do Ministério da Educação para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1997.
GOMES, Bruno Gonçalves, A História do Ciganinho Chico, edição de autor com Ribalta Ambição - associação para a igualdade de género nas comunidades ciganas, 2022.
MENINI, Natally Chris da Rocha, O estigma da “impureza” dos ciganos e os modelos de discriminação no mundo português, ARS, 2016.
NUNES, Olímpio, “O povo cigano”, edição do autor em parceria com a Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos, 1981
PAIVA, Mirna Montenegro Val-do-Rio, Aprender a ser cigano hoje: empurrando e puxando fronteiras, Universidade de Lisboa, 2012
SILVA, Manuel Carlos e colaboradores, Sina Social Cigana – história, comunidades, representações e instituições, Edições Colibri, 2014.
SOUSA, Carlos Jorge, “Os Maias. Retrato sociológico de uma família cigana portuguesa (1827-1957)”, Mundos Sociais, 2013
FICHA TÉCNICA
Coordenação: Ana Cristina Pereira e Joana Bourgard Textos: Ana Cristina Pereira Edição de textos: Sérgio B. Gomes Fotografia: Paulo Pimenta Video: Teresa Miranda Ilustração e infografia: Francisco Lopes e José Alves Narrativa visual e desenvolvimento web: Francisco Lopes Direcção de arte: Sónia Matos
Gerir notificações
Estes são os autores e tópicos que escolheu seguir. Pode activar ou desactivar as notificações.
Gerir notificações
Receba notificações quando publicamos um texto deste autor ou sobre os temas deste artigo.
Estes são os autores e tópicos que escolheu seguir. Pode activar ou desactivar as notificações.
Notificações bloqueadas
Para permitir notificações, siga as instruções:











